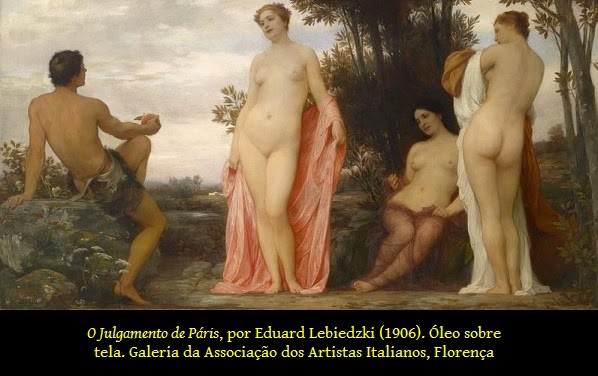– (...) O que você faria depois de eles se renderem?
– Não cometeria o erro cometido em Cartago sessenta anos atrás. Eu arrasaria Numância completamente. Dividiria seu território igualmente entre cada oppidum ao redor, para fazer amizade com aqueles que antes foram nossos inimigos. Pelo mesmo motivo, levaria os filhos dos guerreiros sobreviventes a Roma, não para humilhá-los, mas para exibi-los em minhas procissões triunfais como os adversários nobres e dignos que são. E os educaria como oficiais romanos, como Gulussa e Hipólita, e os colocaria encarregados de uma força celtibera auxiliar para lutar por Roma enquanto avançamos ao norte pelas montanhas em território gaulês, que é para onde eu iria depois de conquistá-los. O legado do cerco de Numância não seria o triunfo vazio de um inimigo tão derrotado que jamais poderia se reerguer, mas a celebração de um inimigo transformado em um combatente por Roma.
* * *
A série de romances Total War: Rome é uma iniciativa louvável. A partir do sucesso do game de estratégia de mesmo nome, esses livros surgem como uma oportunidade valiosa para suscitar em alguns jovens o interesse pela História em geral, e pela Antiguidade em particular. Tudo bem, não em muitos: basta uma rápida espiada em qualquer fórum de games do gênero na internet para constatar que a grande maioria dos gamers (claro que com honrosas exceções) é formada por pessoas comuns, pouquíssimo intelectualizadas (muitas mal sabem escrever) e sem o menor interesse em saber o que foi que inspirou a criação do jogo com o qual se divertem. Mas vamos ser francos: um único adolescente do século XXI que venha a se fascinar com a vida e as realizações de romanos ou gregos já pode ser considerado uma façanha, e um serviço prestado ao mundo moderno. O lucro que os criadores do jogo e dos romances tiverem obtido ou venham a obter no processo, pode ser considerado uma recompensa merecida.
Destruição de Cartago é o primeiro volume da série, e, como o título indica, trata da Terceira e última Guerra Púnica, que durou de 149 a 146 a.C., e ao final da qual Roma, por fim, aniquilou o mais perigoso e persistente inimigo que já enfrentara até então. Cartago, cidade de origem fenícia situada no norte da África, em território da atual Tunísia, dominou durante séculos as rotas comerciais no Mediterrâneo, acumulando com isso enorme riqueza e poder, tornando-se a maior potência da época – o que fatalmente a colocaria numa posição de rivalidade em relação a Roma, quando esta última começou a tentar expandir seu poder e influência para além da Península Itálica.
A história narrada em Destruição de Cartago é a de Cipião, o Jovem, cujo nome completo era Públio Cornélio Cipião Emiliano, neto por adoção de Públio Cornélio Cipião, conhecido como Cipião, o Africano, um dos mais celebrados generais romanos, sempre lembrado por ter derrotado o temido Aníbal na batalha de Zama, em 202 a.C., o que deu a vitória a Roma na Segunda Guerra Púnica. Justamente por sentir que Cartago jamais deixaria de ser uma ameaça às ambições e possivelmente à própria existência de Roma, Cipião, o Africano, pretendia destruir totalmente a cidade, mas não teve autorização do Senado romano para isso. Cartago, derrotada, foi gradualmente reconstruindo suas forças ao longo das décadas seguintes, e, em meados do século II a.C., havia-se tornado mais rica que nunca, apesar de haver perdido suas colônias na Espanha, na Sicília e em grande parte do norte da África, tomadas por Roma durante a guerra. A origem da riqueza de Cartago era o comércio marítimo: fiéis a suas raízes fenícias, os cartagineses eram hábeis marinheiros e ainda melhores como negociantes, capazes de encontrar oportunidades para obter lucro em praticamente qualquer situação. Compravam e vendiam qualquer coisa: vinho, azeite, minérios, cereais, tecidos, armas, gado, escravos.
Em Roma, por essa época, existiam partidos anti e pró-Cartago, e não é difícil imaginar que, em Cartago, também houvesse vozes anti e pró-Roma; é claro que, independentemente da política, havia comércio entre as duas cidades, e lobbies influentes que não queriam que os lucros que vinham daí cessassem. Por outro lado, havia muitos – tanto romanos quanto cartagineses – que não viam possibilidade de convivência pacífica entre ambas a longo prazo: o Mediterrâneo simplesmente não era grande o bastante para isso. No Senado de Roma, a voz mais forte a favor da guerra total era a de Marco Pórcio Catão (234-149 a.C.), que passaria à História como Catão, o Censor. Veterano da Segunda Guerra Púnica, ele defendia a aniquilação completa do inimigo; não viveu o suficiente para ver seu desejo realizado, mas o bordão que criou, e que sempre pontuava seus enérgicos discursos no Senado, tornou-se uma palavra de ordem que continuaria a guiar os romanos na guerra, mesmo depois de sua morte: Carthago delenda est ('Cartago deve ser destruída').
É importante saber que Cipião, o Jovem, foi adotado não porque fosse órfão; entre os romanos, era considerado da máxima importância que nenhum homem morresse sem deixar ao menos um descendente masculino, pois as linhagens se perpetuavam somente pelo lado paterno, e evitar-lhes a extinção era uma preocupação constante de todos, por razões primeiro religiosas, e, mais tarde, também legais. Sendo assim, a lei e os costumes ofereciam essa alternativa: se um pai tivesse vários filhos homens, ele poderia, a seu critério, permitir que um deles fosse adotado por um amigo ou parente que não tivesse nenhum, e essa adoção podia ocorrer já na idade adulta, sem qualquer problema. Desnecessário dizer que não se devia adotar qualquer um: com esse gesto, você estava escolhendo quem herdaria todos os seus bens, e, muito mais importante que isso, a história e as glórias da sua família, bem como a responsabilidade, que nunca era leve, de continuar essa história com honra.
(Por uma questão de comodidade, daqui por diante, ao dizer "Cipião", estarei me referindo ao Jovem; quando quiser falar de seu avô adotivo, direi "Cipião Africano". É verdade que, depois de sua vitória sobre Cartago, Cipião também ganhou o direito de ser chamado Africano, o que aumenta ainda mais a confusão, mas o fato é que a nomenclatura usada pelos romanos exige, muitas vezes, que se estabeleçam convenções desse tipo, pois é muita gente com o mesmo nome ou com nomes parecidos.)
O pai natural de Cipião era o general Lúcio Emílio Paulo, que, já tendo dois outros filhos mais velhos, permitiu a seu amigo Públio Cornélio Cipião – filho de Cipião Africano – adotar o terceiro, que, a partir daí, passou a ter o mesmo nome que o pai e o avô adotivos, acrescido do Emiliano ao final, que servia para distingui-lo de ambos, além de lembrar que nascera da gens dos Emílios. Lúcio Emílio Paulo conduziu o exército romano à vitória na batalha de Pidna, em 168 a.C., que determinou a rendição da Macedônia e sua transformação em província romana. Aos olhos do mundo da época, essa vitória estabeleceu definitivamente Roma como uma potência, tendo o significado simbólico de extinguir de vez o que ainda restava do poder macedônico forjado por Filipe II e expandido por seu filho Alexandre, quase dois séculos antes. E foi em Pidna, segundo o autor David Gibbins, que o jovem Cipião, então com 17 anos, teve seu batismo de sangue, ao lado de seu fiel amigo Fábio Petrônio Segundo, da mesma idade e, também ele, filho de um veterano de Zama. Fábio é um personagem fictício, sob cujo ponto de vista o autor enfoca a maior parte dos acontecimentos ao longo do livro. Embora de origem humilde, sua bravura e a lealdade incondicional ao amigo de alta estirpe o levam a ascender na carreira militar, de modo que, por ocasião da batalha final contra Cartago, já ocupa o posto de primipilo (em latim, primipilus, 'primeira lança'), o centurião de mais alta patente numa coorte – o mais alto posto acessível a um homem que não fosse de nascimento ilustre no exército romano, até aquela época.
Por falar nisso, o livro está cheio de informações empolgantes para apaixonados por história militar (sei que são poucos, mas eu sou um deles e o blog é meu! – risos). Na época, as legiões ainda não eram o exército profissional que se tornariam mais tarde (a reforma de Mário ainda não havia acontecido): os cidadãos eram recrutados para uma campanha específica, conforme a necessidade, e, uma vez concluída esta, davam baixa, retornavam à vida civil, havendo a possibilidade de virem a ser convocados novamente. Porém, algumas coisas a respeito do exército romano já eram como continuariam a ser: disciplina e lealdade já eram as virtudes mais valorizadas. Um bom legionário não discutia uma ordem, e tinha muito mais medo de seu comandante que de qualquer inimigo, por boas razões: para eles, fugir do inimigo numa batalha era um péssimo negócio, pois significava apenas trocar uma morte que todos considerariam honrosa por outra que cobriria de vergonha o nome de sua família – que era, provavelmente, a coisa que um romano tradicional mais prezava na vida. Desertores não recebiam piedade alguma, e ainda deviam considerar-se afortunados quando a urgência dos tempos de guerra lhes garantia uma execução rápida, com um golpe de espada na nuca; sempre que havia tempo e viabilidade, a preferência era por transformar desertores em exemplos, submetendo-os a mortes mais dolorosas e humilhantes, como o fustuarium (o condenado era abatido a porretadas pelos próprios companheiros) ou até mesmo o damnatio ad bestias, a clássica – e aterradora – execução por feras famintas, que, além da execução em si, era também uma "curiosidade" a ser apresentada à população por ocasião de grandes eventos públicos (isso aparece no livro).
Destruição de Cartago aborda um problema com o qual Roma debateu-se durante gerações, como já sabe quem leu meus comentários sobre a série O Imperador, de Conn Iggulden: suas conquistas territoriais, seu poder militar e sua influência no cenário geopolítico da época haviam feito dela um império em tudo, exceto no nome – e na forma de administração e governo. Esse império continuava tentando reger-se como se fosse uma cidade-estado, e qualquer tentativa de inovação esbarrava no tradicionalismo empedernido que sempre foi uma característica do pensamento romano, pois os membros do Senado, em sua maioria, acreditavam sinceramente que o que havia funcionado para seus pais e avós, continuaria funcionando para seus filhos e netos. Para nós, hoje, parece natural aceitar o fato de que o mundo está sempre em transformação, mas, naquele tempo, isso não entrava na cabeça da maioria das pessoas – muitas vezes, nem mesmo das mais instruídas.
O escritor norte-americano James Freeman Clarke dizia que o político pensa na próxima eleição, e o estadista, na próxima geração. Infelizmente, não é de hoje que os "políticos" são muito mais comuns que os estadistas. Na Roma republicana, os governantes supremos eram dois cônsules, eleitos para mandatos de apenas um ano, o que causava certos problemas. Muitos cônsules não se interessavam em começar obras públicas que, embora de grande proveito para a cidade, não poderiam ser concluídas ainda em seu governo, simplesmente porque quem colheria as glórias seria quem calhasse de estar exercendo o consulado quando a obra fosse inaugurada. Pior: havia os que queriam a todo custo marcar seu ano de consulado com um triunfo, e, para conseguir isso, ordenavam ações militares em situações que poderiam ser resolvidas de forma diplomática, desperdiçando uma enormidade de recursos e de vidas. A propósito: hoje em dia, "triunfo" é geralmente entendido como um simples sinônimo de vitória, mas aqui, a palavra é usada com seu significado original; quem não souber o que era um triunfo romano pode descobrir clicando aqui.
O exército também sofria por outro motivo. Havia uma coisa chamada cursus honorum (latim para 'caminho da honra'), que vinha a ser a sequência de cargos que um romano de origens ilustres ocupava ao longo da carreira, incluindo tanto postos civis quanto militares. O próximo cargo que alguém iria ocupar dependia de indicações, que, em teoria, deveriam basear-se no desempenho que o sujeito tivesse mostrado nas funções anteriores – mas, é claro, às vezes as amizades e a troca de influências acabavam pesando mais que a competência. Por causa disso, uma legião que recebia um novo comandante só podia orar aos deuses para que ele tivesse boa cabeça para a guerra – pois, em casos de azar extremo, poderia tratar-se de alguém que, além de não ter capacidade alguma, fosse burro demais para dar ouvidos aos conselhos dos oficiais experientes sob seu comando.
Cipião é um romano à moda antiga no que se refere ao senso do dever e à retidão moral, mas, por outro lado, entende a necessidade de mudanças, tanto na organização do exército quanto no governo. Sua personalidade naturalmente franca e honesta faz com que ele se desanime quando, depois de participar de sua primeira campanha militar, na Macedônia, retorna a Roma para o triunfo de seu pai Emílio Paulo, e percebe todo o potencial para a intriga que existe nos meandros da política da capital. Isso é parte dos motivos que o levam a afastar-se da vida pública e, desgostoso, passar os anos seguintes no isolamento, caçando nas florestas montanhosas da Macedônia, acompanhado apenas pelo fiel Fábio.
Como dissemos, isso é parte dos motivos; há mais. Neste romance (que, não custa lembrar, é uma obra de ficção, tendo a história apenas como inspiração), Cipião é apaixonado por Júlia, a filha fictícia de um personagem real, Sexto Júlio César – houve vários homens com o mesmo nome; este, em particular, foi eleito cônsul em 157 a.C. Por causa de seus deveres para com a família e a República, Cipião abre mão de Júlia e ambos se casam com outras pessoas: ela, com um certo Metelo, dez anos mais velho e notório desafeto de Cipião; ele, com Cláudia Pulcra, por quem não tem qualquer afeição maior e com quem nunca chega a viver de forma conjugal. O ressentimento por ter sido obrigado a renunciar a seu amor soma-se ao fato de Cipião ser um soldado por natureza, não tendo a menor vontade de suportar anos de tédio exercendo cargos jurídicos ou administrativos, à espera do dia em que o cursus honorum talvez (só talvez) acabe levando-o a um posto de comando militar. Isso parece ainda menos provável considerando o período de paz que Roma vive após a derrota dos macedônios.
A esperada notícia de uma nova guerra em perspectiva é, por fim, trazida por Políbio (sim, o famoso historiador grego), amigo e mentor de Cipião, quando vai visitá-lo nas montanhas da Macedônia: os celtiberos, na Espanha, estão agitados, e, talvez insuflados por Cartago, parecem prestes a se rebelar contra o domínio romano. Note-se que os celtiberos, por muito tempo, haviam sido súditos de Cartago, pois a Espanha era possessão cartaginesa até ser tomada por Roma durante a Segunda Guerra Púnica, e que fizeram parte do exército que os romanos, sob o comando de Cipião Africano, enfrentaram naquele conflito. São guerreiros formidáveis, que Cipião respeita e sempre desejou transformar em aliados de Roma. A campanha contra os celtiberos, concluída com a tomada da cidade de Intercácia, surge como uma oportunidade de retomada da carreira militar de Cipião e como um aquecimento para a guerra final contra Cartago. Treze anos depois da derrocada desta última, Cipião voltaria à Espanha e lideraria a tomada de Numância, que marcou a sujeição definitiva dos celtiberos. No devido tempo, esse povo produziria não apenas excelentes legionários, como ele esperava, mas também estadistas, generais, e inclusive imperadores.
Citei há pouco um período de paz vivido por Roma depois da vitória sobre a Macedônia; deveria ter dito "período de aparente paz", pois, durante esses anos, está em andamento uma espécie de "guerra fria" entre Roma e Cartago. Os cartagineses reconstruíram sua poderosa marinha de guerra e agora têm dois portos separados, um deles totalmente dedicado às atividades bélicas, e erigiram altos molhes em volta de todo o complexo, para impedir a espionagem a partir de navios passando por sua costa. Roma cometeu um grave erro dando ao inimigo tempo para refazer suas forças.
Muitos historiadores atribuem a longa duração das duas primeiras Guerras Púnicas (a Primeira durou 23 anos, e a Segunda, 17), ao menos em parte, a uma espécie de equilíbrio: enquanto os cartagineses eram superiores no mar, os romanos levavam vantagem em terra firme. De fato, as legiões romanas de então, embora ainda não tivessem atingido o grau de excelência ao qual chegariam mais tarde, já eram muito mais disciplinadas e versáteis que qualquer outro exército que algum povo do ocidente pudesse pôr em campo naquela época. Já os cartagineses, devido a sua experiência na navegação comercial, conheciam o mar e sabiam conduzir um navio. Além disso, os romanos consideravam o serviço militar uma ocupação viril e valorosa, que conduzia o homem à honra e à glória; seu exército era uma força homogênea, formada essencialmente por cidadãos. Os cartagineses, por outro lado, não pareciam achar as artes da guerra algo particularmente honorável; tinham um exército que era um verdadeiro saco-de-gatos, composto de mercenários oriundos de quase todos os cantos do mundo conhecido. Praticamente só os oficiais eram cartagineses. A marinha, em compensação, contava com uma participação maior de cidadãos.
Na penúltima parte do livro, Fábio e Cipião vão a Cartago como espiões, disfarçados de mercadores, para descobrir o máximo possível sobre o poder militar inimigo. Isso já é às vésperas da guerra final, e o comandante supremo cartaginês de então é um homem chamado Asdrúbal, que se diz descendente do legendário Aníbal, contra quem Cipião Africano, o avô adotivo de Cipião, lutou na Segunda Guerra Púnica; de certa forma, a história parece prestes a se repetir. O que os dois espiões descobrem é aquilo que Cipião já imaginava: Cartago não poupou dinheiro nem trabalho para preparar-se para a guerra. A armada e o exército estão a postos, e até mesmo foi ressuscitada uma tradição de tempos antigos, a tropa de elite conhecida como o Batalhão Sagrado. Nada de mercenários nessa força: os soldados são todos jovens oriundos de famílias nobres cartaginesas, educados para serem guerreiros esforçados, quase fanáticos, que defenderão suas posições até a morte. O fato de esse batalhão estar pronto para entrar em ação revela algo mais: que os cartagineses estão se preparando para a guerra há muito tempo, pois esses rapazes, sem a menor dúvida, vêm sendo treinados desde a infância.
O desfecho da história é épico, sangrento e definitivo, não trazendo surpresas, exceto uma: pouco antes da batalha final em Cartago, Cipião conhece um jovem oficial de nome Gneu Metelo Júlio César, que, claro, é o filho de sua amada Júlia com seu velho rival Metelo – oficialmente, pelo menos. Cipião só precisa somar dois mais dois para perceber que o rapaz é, na verdade, seu próprio filho ("verdade" fictícia, é claro, pois Gneu não é personagem histórico). Naturalmente, o jovem Gneu irá sobreviver à batalha, fazer uma carreira honorável, e, um dia, tornar-se patriarca do ramo César da gens dos Júlios – o que implicaria que Caio Júlio César, que nasceria quase meio século depois, poderia ser seu neto ou bisneto, e, portanto, descendente genético, embora não nominal, de Cipião! Claro que tudo isso é pura liberdade criativa de David Gibbins, e, de qualquer forma, a ideia apresenta uma inconsistência fatal: como já vimos, as linhagens, entre os romanos, só se perpetuavam pelo lado paterno, de modo que um filho de Metelo e Júlia não levaria "Júlio César" no nome – teria o nome da família do pai, não da mãe.
Gibbins demonstra um vasto conhecimento da matéria que está abordando – ele é envolvido com arqueologia, tendo inclusive dirigido pesquisas nos sítios de Cartago –, mas não é propriamente um narrador formidável: seus personagens são todos muito parecidos na índole e no modo de pensar, sentir e agir. Em diversas partes ao longo do livro, são inseridos no texto pequenos "ensaios" sobre política e guerra sob a forma de diálogos, que, embora fascinantes, quebram o ritmo da história, e, às vezes, aparecem em momentos pouco críveis, como quando Cipião, ainda jovem, fica sabendo que um assassino acaba de ser despachado para eliminar Petreu, o velho centurião que foi seu mestre na academia – e, em vez de sair correndo para tentar salvar a vida do velho homem, lança-se a uma discussão que ocupa várias páginas, com Fábio e outro amigo, Ênio, sobre as intrigas que rolam pelas ruas de Roma e sobre a quem esse assassinato iria beneficiar. Só depois de o assunto estar bem debatido e esmiuçado é que os rapazes se põem em movimento!… Não acho isso lá muito realista.
A leitura de Destruição de Cartago é empolgante, mas não sei se seria a mais indicada para adolescentes que acabam de descobrir o mundo antigo por meio de um jogo de computador, e provavelmente ainda sabem pouco sobre ele. Algum grau de conhecimento prévio sobre a história de Roma, sua cultura e organização militar, se não for essencial, é certamente de grande ajuda. Porém, o livro tem um mérito especial: apresenta ao leitor, seja ele quem for, um vislumbre da essência original de Roma, uma cidade que, na época retratada, estava-se tornando cada vez mais poderosa, mas cujos habitantes (até então) ainda se pareciam muito com os da Roma dos primeiros tempos, uma Roma pequena e pobre, cuja riqueza repousava na bravura e nas virtudes de homens como Rômulo, Caio Cévola, Horácio Cocles, Marco Corvo, entre tantos outros. A essência de um povo severo, muitas vezes inflexível, para quem honra, dever e lealdade eram quase tudo o que tinha importância na vida, e os que não agiam de acordo com essa crença eram vistos como indignos de serem considerados verdadeiros romanos.