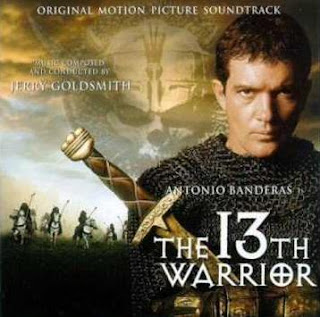Tudo bem, ninguém precisa conhecer teoria literária para ler e apreciar a boa literatura – e, na maioria das vezes, nem mesmo para identificar aquela que não é tão boa assim. A função da TL consiste basicamente em investigar como um texto literário funciona, o que é essencial para escritores, críticos e professores, mas não para o leitor comum. É como no cinema: você não precisa saber como um filme foi feito para apreciá-lo, embora precise caso queira se aprofundar no estudo do cinema como forma de arte. De qualquer forma, mesmo que você seja apenas um leitor, é provável que, à medida em que acumula "horas de voo" e ganha experiência, venha a se sentir curioso sobre a construção de um romance ou de um conto. Para quem chegou a esse nível, o conhecimento de alguns pontos básicos de teoria literária (que, na verdade, não são nenhum bicho de sete cabeças) pode ser útil para ampliar sua compreensão dos motivos para que uma obra seja como é, e não de outro jeito – entre outras coisas, pode-se aprender a ver as opções que o escritor tinha, o porquê de ele ter feito as escolhas que fez, e, muitas vezes, até mesmo a explicação para o fato, de outra forma misterioso, de que um texto tenha a capacidade de nos manter pendurados até seu último caractere, enquanto outro nos deixa entediados.
Uma forma fácil de ter acesso a esses pontos básicos é o que o escritor e professor britânico David Lodge oferece neste livro, na verdade uma coletânea de 50 pequenos artigos escritos para o suplemento dominical do jornal londrino The Independent. Nesses textos, Lodge procurou compartilhar um pouco de sua erudição no campo da teoria literária numa linguagem popular, acessível ao público não especializado. Cada uma dessas colunas semanais publicadas no jornal trata de um assunto pertinente à literatura de ficção, e cada assunto desses, com muita probabilidade, já foi objeto da curiosidade de alguns leitores de razoável experiência. São questões que pipocam em nossa mente durante uma leitura, depois que já nos familiarizamos o suficiente com o universo da literatura para observar tais detalhes. Por exemplo, o que leva um escritor de enorme habilidade a intrometer-se na narrativa, "conversando" com o leitor e quebrando a preciosa ilusão de realidade – coisa que parece mais adequada a um aprendiz em suas primeiras tentativas? Por que certas histórias são melhor narradas em terceira pessoa, outras em primeira pessoa pelo protagonista, e outras, ainda, em primeira pessoa também, mas por um personagem secundário? Por que uma descrição pormenorizada de aparência e/ou personalidade nem sempre é a melhor maneira de apresentar um personagem? Como se constrói o suspense, e como saber a hora certa de quebrá-lo? Essas e muitas outras questões são aqui explicadas de forma concisa e descomplicada, mas não superficial.
Cada capítulo do livro (ou, originalmente, cada coluna de jornal) é estruturado da seguinte forma: primeiramente, o autor reproduz um ou dois trechos de obras literárias que exemplifiquem o ponto a ser discutido, para, em seguida, tecer suas observações a respeito. Vou confessar que conhecia bem poucos dos exemplos usados, pois, com algumas exceções, Lodge vale-se principalmente de expoentes da "literatura urbana" de língua inglesa do século XX, pela qual nunca me senti verdadeiramente atraído – em geral, são histórias comuns sobre gente comum, por vezes com o autor tentando empregar alguma técnica narrativa "revolucionária", que, não raro, transforma a leitura num tormento, e, mesmo quando não, não altera a banalidade ou o escasso interesse do tema (eu, pelo menos, não consigo me interessar pelas impressões de um yuppie inglês sobre os motoristas de táxi de Los Angeles, só para dar um exemplo). Porém, entre as ditas exceções (que não são literatura urbana, ou não são do século XX, ou as duas coisas) há algumas muito importantes, como Jane Austen, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, Ernest Hemingway… Seja como for, o fato de não termos lido a obra analisada não constitui impedimento para que consigamos acompanhar o pensamento de Lodge e captar o que ele quer nos ensinar.
Um exercício divertido que fui fazendo enquanto lia este livro foi o de ir tentando enumerar outros exemplos das características que o autor ia apontando, inclusive exemplos da literatura de língua portuguesa. Logo no segundo capítulo, o assunto é o "autor intrometido" que mencionei há pouco, e os exemplos escolhidos por Lodge são George Eliot e E. M. Forster – mas, para um brasileiro, como não lembrar imediatamente do nosso Machado de Assis? Intrometer-se na história parece, à primeira vista, um "tiro no pé", ou meramente um erro pueril de um aspirante a escritor que ainda tem muito a aprender. Criar uma ilusão de realidade, conseguir que o leitor imerja na narrativa ao ponto de esquecer que está lendo, esquecer até de si mesmo e da realidade que o cerca, para viver durante algumas horas dentro de uma história, é uma das mais belas (e difíceis) realizações que um escritor de ficção pode alcançar; então, qual o sentido de pôr isso a perder, começando uma conversa com o leitor, o que terá o efeito de puxar-lhe o tapete, jogando-o bruscamente de volta ao mundo real?… Um autor do calibre de Machado jamais faria isso de forma ingênua, o que nos obriga a concluir que ele tinha um objetivo, um que, em sua opinião, fazia valer a pena aquilo que se perdia em termos de realismo. E Lodge nos mostra (referindo-se a Forster e Eliot, é claro, mas dá para aplicar a qualquer autor que lance mão desse recurso) que objetivo era esse: depois que o narrador já se expôs como tal aos olhos do leitor, ele fica livre para emitir opiniões ou fazer observações que deixam a história mais interessante ou divertida, mas que não soariam convincentes vindas dos personagens. Funciona particularmente bem se tiver uma certa graça – e, verdade seja dita, poucos têm condições de superar Machado de Assis quando o assunto é um senso de humor sutil e certeiro.
Percorrer os ensaios de Lodge chamou-me a atenção para um punhado de detalhes e características da narrativa literária que, até então, eu, por assim dizer, via como fatos consumados – como algo que era assim ou assado porque não era possível ser de outro jeito, ou por motivos que nunca saberemos, tal como a forma do tronco de uma árvore: por que ele cresceu retorcido em vez de reto, ou por que se bifurcou? Para ser menos metafórico, poderia dizer que, muitas vezes, lendo uma história, assumi que ela fosse como era, simplesmente, porque o autor não havia encontrado outra maneira de fazer a coisa. E não é que isso nunca aconteça, mas essa não é regra: na grande maioria das vezes, cada característica de uma história é resultado de uma ou mais decisões conscientes do autor. Exemplo: no capítulo intitulado O Futuro Imaginado (que toma como exemplo os parágrafos iniciais de 1984, de George Orwell), Lodge aponta para o fato, de certa forma curioso, de que mesmo as histórias que tratam do futuro são geralmente narradas com os verbos no tempo passado. À primeira vista, o mais lógico seria utilizar o tempo futuro, já que Orwell estava escrevendo sobre eventos ambientados quase 40 anos depois de sua época, mas vamos concordar que seria bizarro se 1984 começasse assim: "Será um dia claro e frio em abril, e os relógios soarão as treze horas". E por que seria bizarro? Porque, como observa Lodge, "o passado é o tempo 'natural' da narrativa; até mesmo o uso do tempo presente tem algo de paradoxal, uma vez que qualquer coisa que tenha sido escrita já aconteceu". Se aconteceu de forma concreta ou apenas na imaginação de quem conta a história, pouco importa, mas as coisas têm que acontecer antes de serem escritas, e daí o uso do tempo passado. Isso me fez perceber outra coisa: aqui no blog, quando estou resumindo o enredo de um livro, geralmente uso o tempo presente. Nunca parei para pensar no porquê disso, mas, agora que sou levado a refletir a respeito, creio que seja porque, ao resumir, é como se eu estivesse acompanhando o leitor (o meu leitor, no caso) durante sua própria leitura do livro que estou indicando (ou contraindicando), como se essa leitura estivesse em progresso no momento em que escrevo, e daí porque o tempo presente parece mais adequado. Isso cria uma certa dificuldade quando estou falando de um livro que envolve fatos históricos misturados com a ficção: ao me referir a coisas que realmente aconteceram, sinto-me impelido a usar os verbos no passado, o que, misturado ao presente usado para os eventos fictícios, exige uma atenção especial para tentar evitar que o texto fique estranho. E sei que nem sempre tive sucesso nisso: eu próprio sempre fui da opinião de que um texto no qual os tempos verbais ficam variando dá uma sensação de amadorismo, ou pior, de desleixo. Escrever é uma das coisas que mais me dão prazer nessa vida, mas também dá um bocado de trabalho. Bem, o trabalho faz parte do prazer: se fosse fácil, não teria graça.
Creio que, com esses exemplos, já dá para ter uma ideia de como A Arte da Ficção funciona e o motivo de o livro ser uma verdadeira chave da sala do tesouro para os interessados em entender o que há por trás de um conto ou de um romance e como funcionou a sua criação. Lê-lo de cabo a rabo pode ser um tanto cansativo para quem não está acostumado a estudos desse tipo, mas não deixem que isso os desanime: experimentem ler um ou dois capítulos por dia e mantenham o livro à mão para consultá-lo quando, no decorrer de suas leituras diversas, encontrarem algum ponto que desperte a curiosidade. Geralmente, a melhor maneira de compreender a teoria é aplicando-a na prática, e aqui não é diferente.