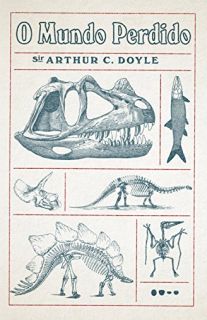Garimpando, tempos atrás, num dos diversos sebos da rua Riachuelo, no centro de Porto Alegre, adquiri um exemplar da velha edição de O Mundo Perdido da Francisco Alves, editora que durante décadas fez por merecer a gratidão de todos os fãs brasileiros da literatura de imaginação; porém, o livro ainda aguardava na minha estante a sua vez de ser lido quando encontrei numa livraria esta nova edição, e, ao ver que incluía uma ampla seção de notas explicativas do tradutor Samir Machado, concluí que valia a pena: Conan Doyle tinha uma tendência a salpicar seu texto com referências a personalidades, instituições e costumes da Inglaterra vitoriana que podem soar bastante misteriosas para quem vive em outra época e outro país (e digo da Inglaterra porque, embora fosse escocês de nascimento e descendente de irlandeses, ele parecia ter em Londres seu habitat literário por excelência). E, de fato, as notas não apenas esclarecem sobre esses detalhes da realidade britânica da época, como corrigem e atualizam vários pontos nos quais as observações do autor sobre características e comportamento dos animais pré-históricos estão hoje ultrapassadas graças aos vastos progressos da paleontologia ao longo do último século. Contando com esse reforço, mergulhei na minha primeira leitura desse clássico.
Não foi pouca a minha surpresa ao perceber na estrutura de O Mundo Perdido uma série de semelhanças com Viagem ao Centro da Terra (1864), de Júlio Verne! É claro que o formato de ambas as histórias é comum a um sem-número de obras que tratam da descoberta de "mundos perdidos", o que alguns teóricos chegam a classificar como um subgênero específico dentro da literatura de aventura – a saber, uma expedição de intrépidos exploradores penetrando em alguma região isolada, desconhecida pelo resto da humanidade, e lá descobrindo todo tipo de maravilhas e surpresas – mas, mesmo assim, chamou-me a atenção que ambos os livros sejam narrados na primeira pessoa por jovens corajosos que deixam para trás suas respectivas amadas, cada um deles na esperança de retornar de sua aventura coberto de glória e assim merecer casar-se com sua musa. Ambos, também, seguem a liderança de um brilhante e excêntrico cientista. No livro de Verne, o jovem Áxel é sobrinho e discípulo do Prof. Otto Lidenbrock, e espera ganhar a mão de Grauben, afilhada do cientista; no de Conan Doyle, o protagonista Edward Malone é um jornalista jovem, mas que já granjeou certa reputação, e está irremediavelmente apaixonado por Gladys, uma moça que parece satisfeita de manter com ele uma relação de cordial amizade, situação sobre a qual o jovem repórter tem opiniões categóricas:
Éramos amigos, bons amigos, mas nunca consegui ir além do mesmo tipo de camaradagem que eu poderia ter com algum colega jornalista da Gazette – perfeitamente sincera, perfeitamente gentil e perfeitamente assexuada. Meus instintos iam contra a ideia de que uma mulher pudesse ser sincera e ficar à vontade comigo; para um homem, isso não é elogioso. Onde a verdadeira atração sexual começa, a timidez e a desconfiança são suas companheiras. (…) A cabeça baixa, o olhar arisco, a voz vacilante, os estremecimentos – esses são os verdadeiros sinais da paixão, não o olhar direto e a resposta franca. Mesmo em minha curta vida, esse tanto eu havia aprendido – ou herdado daquela memória que nossa raça chama de instinto. (…) Houvesse o que houvesse, essa noite eu precisava acabar com o suspense e levar o assunto adiante. Ela poderia até me rejeitar, mas era melhor ser repelido como amante que aceito como irmão.
Tudo pura verdade! Malone demonstra ser sábio para seus parcos 23 anos.
O lugar onde o tempo parece ter parado (depois se descobrirá que não é bem assim) é um platô isolado, cercado em todas as direções por milhares de quilômetros quadrados de selva fechada e pouquíssimo explorada. A teoria de Challenger é a de que, durante alguma era antiga do planeta, atividade vulcânica violenta tenha erguido esse platô, rodeando-o de rochedos intransponíveis que cortaram completamente seu acesso ao resto do mundo. A não ser pelas criaturas aladas, nada entra e nada sai. Esse isolamento teria feito com que a fauna desse pedaço da selva não acompanhasse o processo de extinções e evolução pelo qual a vida na Terra passou desde então. Uma "terra que o tempo esqueceu" – por sinal, título de um livro de Edgar Rice Burroughs, publicado em 1924 e sobre o qual suspeito fortemente de que as semelhanças não sejam mera coincidência.
O platô onde se localiza a Terra de Maple White – assim nomeada em homenagem ao desafortunado explorador norte-americano que foi seu descobridor original – não tem uma extensão muito grande: é descrito como uma área em forma de elipse, com aproximadamente 50 quilômetros de comprimento por 30 de largura máxima. A população animal que uma região desse tamanho poderia sustentar seria pouco numerosa, ainda mais em se tratando de animais de grande porte como era o caso de muitas espécies de dinossauros, mas o leitor com algum conhecimento de paleontologia (mesmo que seja apenas um conhecimento nascido da curiosidade, como no meu caso) perceberá logo que não se deve esperar muito apuro científico nas descrições que Doyle faz da fauna do lugar. A ideia em si do motivo para que os dinossauros tenham sobrevivido ali é até plausível, ainda que improvável, mas é difícil explicar que, além deles, também sejam encontrados exemplos do que hoje chamamos de megafauna, mamíferos de grande porte que dominaram a Terra durante o período Pleistoceno, entre 1,8 milhão e cerca de 12 mil anos atrás – dezenas de milhões de anos depois da extinção dos dinossauros e preenchendo os nichos ecológicos outrora ocupados por eles (é importante lembrar que foi durante o Pleistoceno que se deu o surgimento do homem, cuja atividade como caçador pode ter contribuído para a extinção de certas espécies da megafauna). O autor chega a mencionar o toxodonte, o gliptodonte (este sem citar o nome, falando apenas em “seres semelhantes a tatus”), e, com destaque, o alce-gigante, também conhecido como alce-irlandês, cervo-gigante ou megalocero, talvez o maior cervídeo de que se tem notícia. Não se tratava realmente de um alce, estando geneticamente muito mais próximo do wapiti, ou cervo-canadense (que às vezes é equivocadamente chamado de alce, o que causa confusão) e do veado-vermelho do hemisfério norte, embora seus formidáveis chifres espalmados lembrassem, de fato, os do alce que conhecemos. Era um bicho enorme, que chegava a pesar 700 quilos. O registro fóssil indica que viveu na Europa e na Ásia; sua presença na Amazônia é mera licença poética. A espécie extinguiu-se há uns sete mil anos.
A pergunta inevitável é: se a Terra de Maple White foi isolada do resto do mundo devido à atividade sísmica ou vulcânica na época em que os dinossauros reinavam, como foi que esses grandes mamíferos, que só surgiram em estágios muito posteriores da história da vida na Terra, foram parar lá? O Prof. Challenger tem uma teoria:
Minha própria leitura da situação (…) é que a evolução tem avançado sob as condições peculiares desta terra até o estágio vertebrado, e os tipos antigos sobrevivem e vivem em companhia dos mais novos. Por isso encontramos criaturas modernas como a anta, um animal com uma linhagem e tanto, o grande veado e o tamanduá, em companhia de formas reptilianas do tipo jurássico.
Sim, eu sei: isso não é apenas superficial – é vago demais para podermos dizer que explica alguma coisa. É claro que, num simples livro de aventuras que fala de um lugar totalmente fictício, explicar cientificamente as características de tal lugar não seria uma prioridade nos planos do autor, nem há motivo para que o fosse, mas, como estou escrevendo por prazer, eu também vou me "aventurar" e alongar um pouco mais o assunto.
Quando O Mundo Perdido foi publicado, fazia pouco mais de 50 anos que Charles Darwin havia apresentado a teoria da evolução, e, embora ela já fosse aceita pela maior parte do meio científico e acadêmico, não sei o suficiente sobre história da ciência para poder dizer até onde haviam progredido os estudos sobre o assunto, ou qual a compreensão que se tinha do funcionamento da evolução na prática, então não sei se o esboço de teoria do Prof. Challenger está de acordo com o que se pensava ou o que se sabia na época, mas, à luz da biologia atual, pode-se apontar pelo menos um grande problema: sabe-se hoje que é muito improvável (para dizer o mínimo) que populações de uma mesma espécie, isoladas umas das outras, evoluam exatamente da mesma maneira – ainda que expostas a idênticas condições ambientais. Em outras palavras, vamos admitir que, quando a Terra de Maple White se formou, tenham ficado presos lá, junto com os dinossauros, alguns dos pequenos mamíferos primitivos que já existiam nos períodos Jurássico e/ou Cretáceo: a probabilidade de que esses animais dessem origem, milhões de anos depois, a antas ou alces-gigantes iguais aos do mundo exterior seria, a bem dizer, inexistente. Teriam, certamente, evoluído para novas espécies, mas estas seriam únicas, endêmicas do platô e diferentes das encontradas em qualquer outro lugar – e é provável que fossem todas pequenas, já que os nichos ecológicos disponíveis para espécies de grande porte estariam ocupados pelos dinossauros. E tem mais: por que os mamíferos teriam evoluído, enquanto os dinossauros permaneciam tal como eram? Mas não vamos julgar Doyle: premissas mais esdrúxulas que a de O Mundo Perdido já renderam boas histórias. O livro foi escrito para divertir, e não há dúvida de que o faz muito bem.
Esta edição termina com Grandes, Assustadores e Extintos, artigo de autoria de Samir Machado, tradutor e responsável pelas notas, como dito no início. Mesmo com um perceptível ranço politicamente correto, é um texto interessante, cheio de curiosidades sobre a longa e profícua carreira dos dinossauros no imaginário e na cultura popular, com ênfase em suas aparições no cinema, desde a primeira filmagem do próprio O Mundo Perdido, em 1925 (ainda nos tempos do cinema mudo), até a franquia Jurassic Park, criada por Steven Spielberg com base em um livro de Michael Crichton e cujo mais recente episódio foi lançado em 2018. Entretanto, a influência dos dinossauros sobre a imaginação humana não começou no cinema e nem mesmo na literatura escrita (lembrem-se de que narrativas orais também são uma forma de literatura): é fascinante pensar que fósseis de dinossauros, encontrados por acaso séculos antes que esses animais fossem conhecidos pela ciência, foram a provável origem dos mitos não só sobre dragões, mas também sobre outros seres fantásticos. Esqueletos de protocerátops – um ancestral da linhagem dos famosos tricerátops e estiracossauro –, que eram achados em quantidade na Ásia central, podem ter dado origem à lenda do grifo, um animal com quatro patas e bico de ave!… Voltando por um instante à primeira adaptação cinematográfica de O Mundo Perdido, descobri no artigo de Machado que os dinossauros desse filme foram criados por um cidadão chamado Willis O'Brien, um dos pioneiros da animação stop motion e, mais tarde, mentor do jovem Ray Harryhausen, por sua vez responsável por dar vida a tantas criaturas extintas ou fantásticas, em filmes inesquecíveis inspirados na mitologia grega e em As 1001 Noites, tais como Fúria de Titãs, Jasão e os Argonautas, Sinbad e o Olho do Tigre e tantos outros… Para mim e outros da minha geração, a menção desses títulos é suficiente para fazer bater aquela nostalgia. Harryhausen teve o privilégio de ser amigo de infância de outro Ray – Ray Bradbury, e os fãs de ficção científica conhecem bem o peso desse nome. Os dois Rays uniram forças num filme lançado em 1953, com o título The Beast from 20000 Fathoms; uma tentativa de tradução direta resultaria em algo tão horroroso quanto A Fera que Veio de 20000 Braças de Profundidade (arre!), motivo pelo qual, ao chegar ao Brasil, o filme foi rebatizado como O Monstro do Mar. Há mais curiosidades desse tipo esperando pelos leitores nesse artigo.
Para concluir, quero prestar o devido reconhecimento à editora Todavia, já que O Mundo Perdido há muito andava ausente das livrarias nacionais, e o retorno deu-se de maneira digna, com esta edição agradável e bem cuidada. O único senão é o mesmo do qual já me queixei uma vez aqui no blog, a coisa de terem decidido colocar as notas no final em vez de no rodapé das páginas, o que compromete o dinamismo da leitura. Sugiro rever isso nas próximas edições.