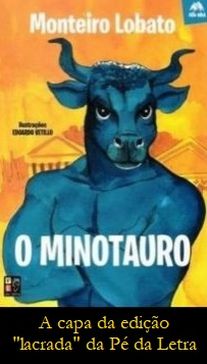Guillermo del Toro já foi assunto aqui no blog por várias vezes, por conta de Hellboy, da Trilogia da Escuridão e da série de TV derivada, The Strain, de seu envolvimento com a trilogia cinematográfica O Hobbit… Que eu me lembre, é isso. Existem vários outros de seus trabalhos que admiro pacas, filmes como Cronos (1993), A Espinha do Diabo (2001) e O Labirinto do Fauno (2006), entre outros, que também poderiam virar assunto, e talvez ainda virem. E o cara sempre volta: desta vez, com a série antológica O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, cuja primeira temporada, com oito episódios, ficou disponível na Netflix agora em outubro.
Os primeiros comentários que ouvi e li, antes de ter contato direto com o material, foram no sentido de que se tratava de uma série bastante macabra e pesada, feita sem aliviar a mão, fosse nos conceitos perturbadores ou nas cenas aflitivas – e esse é um lado que Del Toro, como muitos autores ou realizadores do gênero fantasia, sabidamente possui: basta lembrar de O Labirinto do Fauno, que tem cenas delicadas de magia e encantamento, mas tem também um punhado de criaturas horripilantes e uma cena de um homem sendo assassinado a sangue frio a golpes de garrafa. É fato que, aqui, os episódios são dirigidos por outras pessoas, mas, na qualidade de produtor executivo e criador do conceito da série, coube a Del Toro a escolha dos diretores e, presumivelmente, a supervisão geral, de modo que podemos dizer que seu estilo pessoal perpassa tudo. Ele aparece no início de cada episódio, fazendo um breve comentário enigmático sobre o que veremos a seguir, e apresentando o diretor ou diretora. Por sinal, a julgar pelo rápido levantamento que fiz na internet, são, em sua maioria (mas nem todos), diretores pouco conhecidos, com relativamente pouca coisa em seus currículos, pelo menos enquanto diretores – a australiana Jennifer Kent, por exemplo, que dirigiu O Murmúrio, último episódio desta primeira temporada, teve uma extensa carreira como atriz, mas assina a direção de apenas três filmes até o momento (é verdade que um deles é o muito comentado e elogiado O Babadook, que ainda preciso ver). O importante é notar que Del Toro parece estar apostando em diretores que ainda estão em ascensão, sejam os que ainda não acumularam um grande currículo por serem relativamente jovens, ou os que sempre trabalharam em outras funções no cinema ou TV e estão agora se acostumando com a cadeira da direção.
Assisti a essa primeira temporada num espaço de alguns dias e, por tratar-se de uma série antológica, quer dizer, com cada episódio contando uma história fechada e independente, aplica-se, também aqui, o que sempre digo a respeito de livros de contos: existem altos e baixos e isso é natural – mais que natural, é inevitável. A impressão geral foi muito favorável, e torço para que venham mais temporadas num futuro relativamente próximo. Também à semelhança do que tenho feito com livros de contos, não pretendo comentar cada episódio em detalhes; falarei daqueles que, como espectador, eu tiver achado notáveis e/ou que apresentem alguma… hã… curiosidade.
Muitos fãs de Guillermo del Toro devem ter pensado o mesmo que eu pensei sobre esta série: que faltou ter ao menos um episódio dirigido por ele. Como se fosse para compensar em parte isso, há dois episódios baseados em contos de sua autoria. O primeiro, Lote 36, é dirigido por outro Guillermo, o Navarro, também mexicano e seu colaborador antigo, que trabalhou como diretor de fotografia em vários de seus filmes. Foi inevitável pensar em Lote 249, de Sir Arthur Conan Doyle, mas só os títulos é que são parecidos. A história se ambienta em janeiro de 1991 – uma datação tão precisa é possível porque o episódio começa com um personagem vendo na TV o pronunciamento do presidente George Bush (pai) logo após o primeiro ataque aéreo americano contra Bagdá, que deu início à fase "quente" da Guerra do Golfo, que já se arrastava desde meados do ano anterior. O protagonista (que não é o personagem da primeira cena) é Nick Appleton, um veterano do Vietnã que está devendo a um agiota, o qual lhe tem feito ameaças regularmente. Para tentar conseguir o dinheiro que pode ser a diferença entre a vida e a morte, Nick recorre a diversos expedientes, e um deles requer uma breve explicação… Nos Estados Unidos são comuns os self storages, lugares onde as pessoas podem alugar depósitos individuais, numerados, para pôr a tralha que não têm mais onde guardar em casa; se o locatário de um depósito morre sem herdeiros, desaparece ou deixa de pagar o aluguel durante um determinado número de meses, a administração do storage procede a uma espécie de "despejo": o conteúdo do depósito é levado a leilão, e o comprador tem um prazo para retirar tudo, a fim de que o espaço possa ser alugado novamente. Um "lote", então, é a totalidade do conteúdo de um desses depósitos abandonados. O detalhe interessante, por assim dizer, é que esses leilões são uma loteria: os participantes fazem seus lances sem saber o que vão encontrar quando abrirem o lugar. Pode estar cheio de objetos raros que renderão uma pequena fortuna num antiquário, ou conter apenas pilhas de jornais velhos, mobília quebrada, roupas roídas por traças, e todo tipo de quinquilharia sem valor que pessoas idosas (geralmente) guardaram ali porque seus familiares estavam ameaçando jogá-las fora. Nick, então, arrisca o dinheiro que tem comprando alguns desses lotes, na esperança de encontrar algo que dê lucro. O mais recente é o de número 36, que pertenceu ao mesmo "velhote esquisito" desde que o storage começou a funcionar, logo após o fim da Segunda Guerra, e agora o velhote acaba de morrer. Em meio à costumeira montanha de inutilidades empoeiradas, Nick descobre um móvel valioso e curioso, uma mesa feita especialmente para a invocação de espíritos, e, dentro de suas gavetas, três livros muito raros e sinistros. O ex-soldado é do tipo cético – e mais que isso, um cético chato: quando um especialista em ocultismo, que ele procura em busca de uma avaliação dos itens, tenta lhe explicar sobre os mistérios e histórias sombrias envolvendo aqueles livros, ele interrompe impaciente, pois a única coisa que lhe interessa é saber quantos dólares pode conseguir pelo conjunto. Tudo o que posso dizer sem revelar mais do que devo é que ele vai ver-se numa situação na qual seu ceticismo não lhe servirá de nada. Nick é o tipo de protagonista do qual é importante que o espectador não goste, e o roteiro se encarrega disso: além de sua rabugice, ele é preconceituoso, mostrando uma evidente má vontade para com negros, latinos e, provavelmente, para com qualquer estrangeiro – embora eu lhe dê razão num ponto, o de não gostar do fato de que aparentemente só determinados tipos de pessoa é que têm o direito de exigir respeito e de se indignar caso não o recebam: negros são protegidos pela lei e pelo senso comum contra ofensas de cunho racial, mas, por outro lado, eles próprios são livres para dirigir ofensas (inclusive de cunho racial) contra brancos, à vontade, sem que nada aconteça; já era assim em 1991, e hoje muito mais. O mesmo se aplica aos gays em relação aos héteros, às mulheres em relação aos homens e por aí afora: basta apresentar o seu crachá de membro de qualquer "minoria oprimida", que você tem carta branca para fazer e dizer o que quiser, incluindo as coisas mais escrotas e absurdas, e ninguém pode protestar, sob pena de ser rotulado de ista e fóbico. Desculpem-me os politicamente corretos, mas isso não é certo; a verdade não deixa de ser verdade só porque quem está dizendo-a é um sujeito desagradável como Nick Appleton. Mas esse não é o ponto aqui: Lote 36 é um episódio forte e envolvente, um excelente pontapé inicial para a série, além de nos deixar com vontade de ler mais dos trabalhos de Del Toro no campo da literatura.

O segundo episódio,
Ratos de Cemitério, é baseado num conto de alguém chamado Henry Kuttner, nome que não me é estranho e que pretendo pesquisar. O episódio é várias coisas, mas, antes de mais nada, é claustrofóbico, motivo pelo qual minha namorada, Cintia, achou-o uma experiência bastante desagradável – e, pelo que ela me contou depois, foi ainda pior para uma amiga, que ficou tão incomodada que nem foi até o final: "dropou" o episódio e a série. E eu entendo: há muitas maneiras de abordar o terror, muitas "pontas por onde pegá-lo" (acho que a expressão é de
Stephen King, mas não tenho certeza), e a claustrofobia é uma delas, usada ao longo da história do gênero por muitos autores e diretores. Aqui especificamente, a maior parte da ação transcorre debaixo da terra, dentro de túmulos ou em túneis tão apertados que mal dá para uma pessoa rastejar por eles, e, para algumas pessoas, ambientes apertados, mesmo vistos numa simples tela, podem ser desesperadores. O ano é 1919 (assim consta na lápide de uma jovem sepultada poucos dias antes) e o local é a cidade de Salém, Massachusetts, palco dos famosos julgamentos de bruxaria no século XVII. O protagonista é um homem de nome Masson, que, assim como Nick Appleton, está gravemente endividado. Masson vive de perambular pelos cemitérios saqueando sepulturas, "aliviando" os mortos de quaisquer objetos de valor com os quais eles tenham sido enterrados, mas sua atividade não lhe tem rendido muito ultimamente, e seu credor está pressionando. É então que ele fica sabendo da morte de um figurão da sociedade, um comerciante muito rico e influente, cuja viúva faz questão de enterrar com ele uma de suas posses mais valiosas: um sabre cerimonial que o falecido ganhou de presente do próprio rei da Inglaterra. É claro que Masson imediatamente coloca o túmulo do comerciante no topo de sua lista de prioridades, mas, embora ele esteja acostumado a brigar com ratos em suas andanças noturnas em cemitérios, nem imagina o que vai encontrar desta vez. O episódio é mesmo aflitivo, mas também tem toques irresistíveis de humor (geralmente negro). O ator David Hewlett está magistral no papel de Masson. Vincenzo Natali (de
Cubo e
Monstro do Pântano) dirige.
Guillermo del Toro sempre foi um grande fã de H. P. Lovecraft. Um de seus sonhos já de muitos anos, e bem conhecido por quem acompanha sua carreira, é dirigir um grandioso filme adaptando um dos contos mais ambiciosos do escritor, Nas Montanhas da Loucura, mas, pelo que li tempos atrás, ele teria brigado feio com os produtores em potencial porque eles queriam meter uma trama romântica na história (!). De vez em quando circulam rumores de que o projeto está em vias de finalmente engrenar, mas, até o momento em que escrevo, nenhum boato sobre o qual eu tenha lido me pareceu ser mais que isso – boato. Enquanto Nas Montanhas da Loucura não acontece, Del Toro nos traz em seu Gabinete as adaptações de duas outras histórias de Lovecraft, estas de porte mais modesto, mas nem por isso menos cultuadas, e muito merecidamente, pelos fãs do autor: O Modelo de Pickman e Os Sonhos na Casa da Bruxa.
O primeiro, dirigido por Keith Thomas e estrelado por Ben Barnes (de O Retrato de Dorian Gray e Westworld), é apenas frouxamente inspirado no texto original, e eu entendo o motivo: o conto é muito discursivo, o que não funcionaria bem na tela. Barnes interpreta o protagonista Thurber, que no conto era também o narrador, e que no episódio ganhou um primeiro nome, William. Nesta versão, Thurber, ainda rapazote, é um dos mais destacados estudantes de arte na Universidade Miskatonic (fundada em 1690 e cuja simples menção deixa qualquer fã de Lovecraft de orelha em pé) quando sua turma recebe um novo aluno, um tal Richard Upton Pickman, um sujeito mais velho, já nos seus 30 ou quase isso, e de passado misterioso. Thurber imediatamente sente uma curiosidade intensa a respeito do novo colega, que demonstra já ser um artista de grandes capacidades, dotado de um talento natural aperfeiçoado por um número muito maior de anos de prática do que qualquer um de seus colegas pós-adolescentes pode ter tido – mas com um detalhe: seja qual for o motivo artístico proposto, Pickman transforma-o em imagens assustadoras, repletas de sugestões de elementos do oculto, da feitiçaria e do além-túmulo, e sempre com uma habilidade prodigiosa. No início é Thurber quem repetidamente procura a companhia de Pickman (que claramente preferiria ser deixado só), fascinado que está tanto por sua arte macabra quanto por sua personalidade misteriosa – mas então a narrativa dá um salto de vários anos, e encontramos um William Thurber já maduro, casado e com um filho, além de membro conceituado da comunidade dos artistas em Massachussetts; nesse ínterim Richard Pickman reaparece, depois de uma longa ausência. Agora é Pickman quem parece ansioso por reatar a antiga amizade, declarando que o julgamento crítico de Thurber é valioso para ele, enquanto Thurber, tomado de desagradáveis suspeitas a respeito de qual pode ser a verdadeira origem da arte de Pickman, prefere não ter ligações com o pintor, e, principalmente, não gosta da ideia de vê-lo rondando sua família… Não irei mais adiante para evitar spoilers, o que é ainda mais importante aqui porque, como a adaptação é muito livre, o episódio reserva surpresas inclusive para quem leu a história, e longe de mim querer estragá-las. Pode-se discutir (e seria uma discussão deveras interessante) se a versão de O Modelo de Pickman trazida por Del Toro e Keith Thomas ainda é Lovecraft, mas, mesmo que não seja, é inegável que o roteirista Lee Patterson soube apropriar-se do legendarium do autor e com ele produzir uma história digna de respeito, que consegue manter-nos durante uma hora inteira com os olhos pregados na tela. Barnes não surpreende – considero-o um ator correto, mas talhado para papéis de galã e que dificilmente nos apresentará algo muito diferente disso; por outro lado, Crispin Glover, no papel de Richard Pickman, é um pesadelo à parte (no sentido elogioso!), com uma atuação ao mesmo tempo feroz e irônica e um olhar que é simultaneamente o de um visionário que enxerga outros mundos e o de um maníaco.

Acho necessário fazer um parágrafo separado apenas para comentar o magnífico trabalho de arte que vemos em O Modelo de Pickman. É atordoante pensar na quantidade de horas de trabalho investidas por um artista (aliás, provavelmente vários) para criar pinturas que a câmera iria mostrar apenas de relance (e confesso que apertei o pause várias vezes para tentar analisar mais detidamente as imagens). Seria interessante saber se todas essas pinturas foram feitas especialmente para o episódio ou se algumas delas eram trabalhos preexistentes, usados com permissão dos autores – pois, como já comentei em outro lugar, muitos artistas plásticos fãs de Lovecraft já fizeram suas tentativas de materializar os terríveis quadros de Pickman a partir das descrições fornecidas no texto. As pinturas de Pickman em si eram a parte que mais me intrigava nesse conto, e continuam a sê-lo nesta adaptação. Assumindo todos os riscos (tal como o de enlouquecer), eu bem que gostaria de fazer uma visitinha ao atelier dele.
A outra adaptação de um conto de Lovecraft presente nesta temporada é Os Sonhos na Casa da Bruxa, com direção de Catherine Hardwicke (Crepúsculo) e tendo como ator principal Rupert Grint (o Rony Weasley dos filmes de Harry Potter). Numa comparação com O Modelo de Pickman, Os Sonhos na Casa da Bruxa até tem um pouquinho mais de correlação com o conto que lhe deu origem – e, apesar disso, entrega um resultado menos bom. No conto, o protagonista Walter Gilman é um estudante de graduação da Universidade Miskatonic que, curiosamente, mistura sua exaustiva dedicação a alguns dos campos mais complexos da alta matemática com um interesse por folclore e pelas histórias dos julgamentos de bruxaria – e acaba fundindo os dois campos de conhecimento. Gilman acredita, ou, melhor dizendo, tem certeza, com base nas conclusões teóricas da matemática, de que a existência de outras dimensões é um fato, ao qual só falta a prova material. Ele acredita também (e isso sim é uma crença) que as antigas bruxas conheciam o segredo de como viajar entre as dimensões; as velhas histórias de voos noturnos em vassouras ou no dorso de animais mágicos poderiam não ser mais que uma representação simbólica disso. Dos registros que leu sobre a época dos julgamentos, chamou-lhe especial atenção a história de uma tal Keziah Mason, que teria fugido da Cadeia de Salém em 1692. A casa onde morou essa célebre bruxa ainda existe, e Gilman consegue alugar o exato quarto onde ela viveu e, presumivelmente, praticou seus feitiços. As paredes da decrépita habitação estão rabiscadas com símbolos e diagramas que todos sempre supuseram tratar-se de algum tipo de escrita demoníaca, mas que o estudante reconhece como sendo matemática avançadíssima, um tipo de conhecimento que deveria ser impossível para uma velha comum e provavelmente analfabeta do século XVII. E, ao dormir naquele quarto, Gilman passa a ter sonhos cada vez mais perturbadores envolvendo Keziah e seu suposto "familiar", uma criatura semelhante a um grande rato com cara humana (um "familiar", ao que se acreditava, era um pequeno demônio em forma animal, ou semi-animal, que o diabo dava de presente a cada bruxa por ocasião de sua iniciação, e que prestava serviços a ela). Para Lovecraft, a obsessão intelectual de Gilman, sua determinação de provar perante a ciência que outras dimensões existem e que viajar entre elas é possível, era motivação válida e plenamente suficiente para seu protagonista; nesta adaptação, o roteirista deve ter achado que um objetivo tão abstrato e impessoal quanto esse não atrairia a empatia do público para o personagem, e assim, inventou para ele uma história trágica: Gilman, na infância, tinha uma irmã gêmea a quem era muito ligado, e que morreu em tenra idade, com o detalhe de que o pequeno Walter a viu ser arrastada, em sua forma espiritual (ou fantasmal, se quiserem) para uma espécie de limbo que ficaria em outra dimensão, enquanto seu corpo físico ficava para trás. Daí em diante, o rapaz ficou obcecado por parapsicologia, por fenômenos mediúnicos e pela possibilidade da comunicação entre o mundo dos vivos e o dos mortos, vindo inclusive a fazer parte de uma sociedade espiritualista. É por esse caminho que ele acaba indo parar no velho quarto de Keziah Mason. Na minha opinião, essa "humanização" da trama pode funcionar para os espectadores que nunca leram Lovecraft, mas os que conhecem o conto vão achar o novo enredo uma coisa prosaica e novelesca, que apaga muito da sensação de estranheza extraterrena que conferia à história original a maior parte de seu interesse; além disso, a novidade de fazer com que as viagens de Gilman entre as dimensões sejam possibilitadas por uma espécie de poção foi, a meu ver, um recurso bastante ordinário. Visualmente, achei a representação de Keziah exagerada: poderia ficar mais assustadora se a apresentassem simplesmente como uma velha de olhar maligno em trajes de época, em vez de um espectro hollywoodiano padrão, totalmente criado em CG, que poderia ter saído de algum filme da franquia Invocação do Mal ou de qualquer outro "terrorzão de shopping". Por outro lado, Brown Jenkin, o familiar da bruxa, ficou perfeito – adequadamente macabro.

A Autópsia, dirigido por David Prior, aposta no já tantas vezes bem-sucedido crossover entre ficção científica e terror, propondo uma versão ainda mais assustadora para o clássico Invasores de Corpos (1978). O veterano ator F. Murray Abraham (de quem eu sempre me lembro como o compositor Antonio Salieri, o rival de Mozart em Amadeus) interpreta o Dr. Carl Winters, um igualmente veterano médico legista que atende ao chamado de um velho amigo, o xerife Nate Craven, delegado de uma outrora tranquila cidadezinha mineradora que, há algum tempo, vem sendo assolada por uma onda de desaparecimentos; agora aconteceu um acidente inexplicável na mina que emprega a maior parte da população e que é a base da economia da cidade, tirando a vida de vários trabalhadores. Winters confidencia ao amigo que está sofrendo de um câncer terminal e tem poucos meses de vida – e faz isso pouco antes de entrar na gelada e tétrica sala onde realizará sozinho a autópsia dos mineiros mortos e fará descobertas horrendas. O episódio é muito bom, tenso do início ao fim e com um conceito de arrepiar os cabelos. Só estejam avisados de que, como ele trata em grande parte de autópsias, vocês poderão achar algumas cenas um tanto difíceis de assistir. Eu achei.
Como tantas vezes, o melhor de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro ficou para o final: é justamente O Murmúrio (The Murmuring), dirigido pela já citada Jennifer Kent e tendo como principais atores Essie Davis (também australiana e que atuou em O Babadook) e Andrew Lincoln (da série The Walking Dead). E, assim como o primeiro, este último episódio da temporada é baseado num conto de Del Toro. O primeiro comentário que me veio à cabeça ao terminar de assisti-lo foi que nunca devemos achar que determinado tema já está batido demais para render uma boa história de terror, seja na literatura, cinema ou TV: parece-me que o velho tema da casa assombrada, contanto que seja explorado com competência, nunca deixará de causar calafrios. A história se passa nos anos 50 e os protagonistas são Nancy e Edgar Bradley, um casal de ornitólogos que recentemente passou por uma tragédia pessoal, a perda da filha ainda bebê. Fazendo da dedicação ao trabalho sua terapia, os dois partem para uma pesquisa de campo a fim de estudar os hábitos dos pilritos (pássaros semiaquáticos e migratórios, espécie comum na Europa), o que exigirá que passem um longo tempo numa desabitada região de charcos – o local não é nomeado, mas parece ficar em alguma parte das Ilhas Britânicas. Lá, o casal se aloja numa grande e antiga casa, completamente isolada, parecendo ser a única na pequena ilha onde fica. Está desabitada há 30 anos, mas os retratos nas paredes sugerem que já foi a moradia de uma família perfeitamente normal e feliz – um casal e seu filho pequeno. Nancy se intriga imaginando por que eles teriam partido deixando para trás seus móveis e todos os objetos pessoais, incluindo até mesmo um grande número de cartas, mas seu trabalho com os pilritos ocupa demais seu tempo e energia para que ela possa pensar muito a respeito… Até começar a ouvir e ver certas coisas na casa. Coloquei nessa ordem de propósito: primeiro ela ouve, em meio às horas e horas de gravações dos sons dos pássaros, uma voz infantil sussurrando que está com frio. É indispensável observar que, de acordo com as explicações da própria Nancy, murmuring, em inglês, pode ter dois sentidos: um, bem conhecido e de uso comum, é o de falar baixo, sussurrar; o outro se refere às formações que bandos de pássaros em voo podem assumir, às vezes sugerindo certas figuras (eu nunca tinha ouvido falar nessa segunda acepção). Mais tarde, ela passa a ver o menino andando pela casa às escuras durante a madrugada, às vezes encharcado, com a roupa escorrendo água… É apavorante de verdade, e nisso há muito mérito da diretora, cuja condução é ora sensível, ora implacável. Outra coisa que o espectador nota é que o fato de apenas Nancy ter consciência dessa presença não pode ser mero acaso; Edgar declara repetidamente que nunca viu nem ouviu nada. Isso pode significar, de modo implícito, que, embora tenha sofrido (e ainda sofra) tanto quanto a esposa com a morte da filhinha, ele já conseguiu "ir em frente"; Nancy ainda não. A incapacidade dela de falar sobre sua perda, e o fato – observado pelo marido – de que não verte nenhuma lágrima, indicam que toda a sua dor está trancada dentro dela, atormentando-a dia a dia. Talvez seja essa dor recolhida o que a coloca em sintonia com a dor daqueles que moraram (e aparentemente ainda moram) naquela casa. O Murmúrio chega muito perto da perfeição, conseguindo em uma hora o que muitos longas-metragens de terror não conseguem no dobro desse tempo, e reforça minha vontade de conhecer os filmes anteriores de Jennifer Kent, bem como minha expectativa do que mais ela poderá nos trazer no futuro.
Seguindo minha resolução de só entrar em detalhes sobre um episódio no caso de ele ter chamado muito a minha atenção, percebo que acabei falando (mais longamente ou menos) sobre seis dos oito; houve dois episódios dos quais eu não gostei, e por esses passarei muito rapidamente. Um deles foi o terceiro, Por Fora, que, embora abordando temas importantes (até que ponto uma pessoa é capaz de ir em busca de aceitação social e o poder da TV para influenciar comportamentos e criar necessidades), simplesmente não me "pegou"; não consegui construir uma ligação com a protagonista e achei o desenrolar tedioso, de modo que, mesmo que o episódio tenha a mesma duração que a maioria dos outros, com cerca de uma hora, me pareceu muito mais longo que isso. O outro foi o penúltimo, A Inspeção, cujo maior mérito, a meu ver, é o de conseguir imergir com perfeição o espectador na atmosfera dos anos 70 (o ano citado é 1979), por meio do visual dos personagens e da trilha e efeitos sonoros, evocando aquele mundo psicodélico e com tendência ao exagero estético; a fotografia também parece ter sido planejada para remeter a filmes daquela década ou do comecinho da seguinte, como Alien e O Enigma de Outro Mundo – e vamos descobrir que todo o trabalho investido em criar essa semelhança foi com bons motivos, motivos que têm a ver com o roteiro. Infelizmente, esse roteiro nunca chega a dizer a que veio: a maior parte do episódio é preenchida por longas e tediosas conversas entre os personagens, e, quando o componente fantástico é finalmente apresentado, mostra-se genérico, gratuito e jogado de qualquer maneira. Valeu a curiosidade de rever o agora idoso Peter Weller, ator que protagonizou Robocop, um dos melhores filmes de ficção científica de ação da década de 80.
Enfim, Guillermo del Toro fez um belo trabalho criando e produzindo esta série, que, embora irregular, certamente recompensa bem o tempo investido para assisti-la, para os amantes do terror em geral e para os fãs de Del Toro em particular. Pelo que vi na internet, a receptividade do público tem sido boa, o que nos permite cultivar a esperança de que essa primeira temporada não seja a última. Seria excelente se, nas próximas, fossem trazidos contos de outros autores notáveis de terror, fossem antigos ou contemporâneos – Arthur Machen, Edgar Allan Poe, Stephen King, Clive Barker… Mas torço para que, se isso acontecer, as adaptações sejam mais fiéis que as de Lovecraft que vimos. Seria bom, ainda, que Del Toro assumisse a direção em alguns episódios. É esperar para ver.