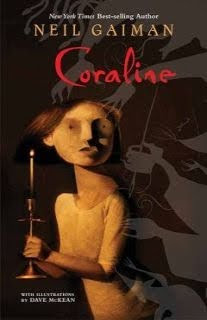Terminei de ler o segundo volume da série O Imperador e continuo sem saber o que o título A Morte dos Reis tem a ver com seu enredo. O primeiro, vá lá, chamava-se Os Portões de Roma porque foi nele que Júlio César entrou na cidade pela primeira vez. Agora, A Morte dos Reis?... Roma só teve quatro reis "legítimos": seu fundador Rômulo, Numa Pompílio, Tulo Hostílio e Anco Márcio, e isso foi nos séculos VIII e VII a.C.; depois, caiu sob domínio etrusco e passou a ser governada por reis provenientes desse povo, o último dos quais, Tarquínio, o Soberbo, foi derrubado em 509 a.C. Por causa do tempo vivido sob domínio estrangeiro, os romanos haviam criado uma antipatia instintiva por reis e realezas em geral, que, aos seus olhos, tinham-se tornado sinônimo de tirania; de modo que, por ocasião da queda de Tarquínio, juraram que nunca mais seriam governados por rei algum: estava fundada a República. Mais de quatro séculos antes de Júlio César nascer, como se vê.
Terminei de ler o segundo volume da série O Imperador e continuo sem saber o que o título A Morte dos Reis tem a ver com seu enredo. O primeiro, vá lá, chamava-se Os Portões de Roma porque foi nele que Júlio César entrou na cidade pela primeira vez. Agora, A Morte dos Reis?... Roma só teve quatro reis "legítimos": seu fundador Rômulo, Numa Pompílio, Tulo Hostílio e Anco Márcio, e isso foi nos séculos VIII e VII a.C.; depois, caiu sob domínio etrusco e passou a ser governada por reis provenientes desse povo, o último dos quais, Tarquínio, o Soberbo, foi derrubado em 509 a.C. Por causa do tempo vivido sob domínio estrangeiro, os romanos haviam criado uma antipatia instintiva por reis e realezas em geral, que, aos seus olhos, tinham-se tornado sinônimo de tirania; de modo que, por ocasião da queda de Tarquínio, juraram que nunca mais seriam governados por rei algum: estava fundada a República. Mais de quatro séculos antes de Júlio César nascer, como se vê. Durante esse tempo, a República havia tentado conciliar os interesses dos diferentes setores da sociedade romana - o que, embora nunca tivesse sido fácil, era com certeza menos difícil enquanto Roma foi uma pequena nação de agricultores-guerreiros, tornando-se cada vez mais complicado à medida em que ela crescia em população, poder e riqueza. Na época em que se ambienta esta história, o sistema encontrava-se enfraquecido por disputas de poder, pelo tráfico de influências e pela corrupção - mas, mesmo assim, ainda conseguia assegurar aos romanos viver numa sociedade mais justa que 90% dos outros povos da época. Ou, pelo menos, mais próxima de ser justa.
"Sabe o que significa a palavra 'república'? (…) Poucos dos meus colegas senadores parecem entender. Vivemos uma ideia, um sistema de governo que permite a todos terem voz, até mesmo o homem comum. Percebe como isso é raro? Cada outro pequeno país que eu conheço tem um rei ou um chefe governando. Ele dá terras aos amigos e tira dinheiro dos que se desentendem com ele. É como ter uma criança à solta com uma espada. Em Roma temos o governo da lei. Ainda não é perfeito, e nem mesmo justo como eu gostaria, mas tenta ser, e é a isso que dedico minha vida. Vale minha vida; e a sua também, quando chegar a hora." Essas palavras, na verdade, estão no primeiro volume da série, e são ditas pelo senador Caio Júlio César ao filho ainda pequeno; coloco-as aqui porque é em A Morte dos Reis que tem início, propriamente, a complicada relação entre o Júlio César mais jovem e a República romana, instituição que ele começou servindo, mas à qual acabaria pondo um fim.
Os Portões de Roma termina com a tomada da capital por Cornélio Sila, arquirrival do tio e mentor de César, Mário. Este último é assassinado e todos os que o apoiavam são obrigados a fugir para evitar a vingança de Sila. O meio que o jovem Júlio encontra para escapar é alistando-se para dois anos de serviço militar no mar. É nessa situação que vamos encontrá-lo no início deste segundo volume, servindo a bordo de uma galera, com o posto de tesserário - um oficial de baixa patente, auxiliar de um centurião. Começa a destacar-se por sua coragem e capacidade de liderança por ocasião da tomada da fortaleza de Mitilene, numa ilha grega que se havia rebelado contra o domínio romano, mas mostra seu verdadeiro calibre mais tarde, quando a galera é afundada por piratas e os poucos sobreviventes são aprisionados à espera de resgate. Durante os duros e intermináveis meses de cativeiro, sua força de vontade e seu dom para inspirar coragem aos companheiros são reconhecidos por quase todos - inclusive o capitão Gadítico, antigo comandante da galera, que acaba cedendo o comando ao jovem. Quando o resgate finalmente chega, o escasso punhado de agora esquálidos e maltrapilhos oficiais navais é por fim libertado numa praia do norte da África, próximo de um povoado romano de onde, com alguma sorte, poderão tomar um navio para casa. Só que, ao invés de fazer isso, César decide tomar nas próprias mãos a tarefa de punir os piratas, tanto para restaurar seu orgulho abalado quanto para tentar reaver os vultosos resgates pagos pelas cabeças de todos eles e que, na maioria dos casos, deixaram suas famílias à beira da miséria. Para tanto, ele e seus companheiros começam a percorrer os povoados romanos da região, recrutando jovens que são na maioria filhos de legionários reformados, treinando-os por conta própria e equipando-os da melhor maneira possível.
Por mais disparatado que pareça o plano de César, de caçar um navio pirata entre as centenas que infestam o Mediterrâneo naqueles dias (sem esquecer que achar os piratas é a parte fácil, pois, uma vez isso feito, ainda será preciso derrotá-los), o fato é que consegue levá-lo a bom termo, e nem mesmo ele imagina que essa ainda está longe de ser a maior proeza que realizará durante esse tempo de exílio. Ao aportar na Grécia, César fica sabendo de duas coisas. Uma é boa: Sila morreu, de modo que, em teoria, ele poderia voltar a Roma; a outra, nem tanto: o rei grego Mitrídates do Ponto, que certa vez já se levantara contra Roma, sendo subjugado por Sila, está encabeçando uma nova e sangrenta rebelião que já custou as vidas de centenas de cidadãos romanos. Enquanto, em Roma, os senadores discutem interminavelmente e não conseguem determinar um curso de ação por causa de suas rivalidades e picuinhas, César e seus companheiros mais uma vez encaram o desafio. Juntando os jovens recrutados na África com algumas centenas de idosos soldados veteranos, que eles mesmos reconvocam pelas cidades gregas, formam uma curiosíssima unidade onde novatos e anciãos combatem lado a lado (essa reconvocação, por falar nisso, é verossímil: os veteranos das legiões, ao retornarem à vida civil, recebiam terras ou uma quantia em dinheiro suficiente para iniciar um negócio, e juravam apresentar-se novamente a qualquer momento, caso Roma necessitasse deles). Com cerca de mil homens - um quinto do efetivo normal de uma legião -, valendo-se de táticas de guerrilha, César enfrenta o exército de Mitrídates, dez vezes maior (para saber mais detalhes e qual o desfecho da campanha, leiam o livro - hehehe).
Um dos pontos mais fascinantes (pelo menos para mim) deste segundo volume da série, é a descrição fluente e convincente da vida nas legiões, que chega a permitir até mesmo a quem jamais vestiu uma farda (como eu, por exemplo) ter um vislumbre das coisas que um soldado deve sentir e viver - e de modo especial, não qualquer soldado, e sim os das incríveis legiões romanas, de longe o melhor exército que já existiu. A carreira de um legionário típico eram 20 longos anos de disciplina férrea, treinamento intenso, trabalho exaustivo, desconforto, risco de vida e, não raro, privações - e no entanto, os que se reformavam sentiam saudades da vida na caserna e diziam a todos que aqueles tinham sido os melhores anos de suas vidas. Talvez fosse porque a legião acabava tornando-se uma espécie de família para seus integrantes - e, para os romanos, família tinha real importância -, devido ao tipo sui generis de camaradagem que só enfrentar a morte lado a lado cria entre as pessoas. Ou por causa do sentimento de orgulho e poder que vinha de fazer parte de um exército cuja disciplina e habilidade, conquistadas mediante anos de treinamento duro, não podia s
 er igualada por nenhum outro exército do presente ou do passado - e, embora eles não pudessem sabê-lo, nem o seria no futuro. Devia ser uma coisa extraordinária sentir-se parte de uma unidade de combate acostumada a enfrentar inimigos duas, três vezes mais numerosos, no próprio território deles - e vencer.
er igualada por nenhum outro exército do presente ou do passado - e, embora eles não pudessem sabê-lo, nem o seria no futuro. Devia ser uma coisa extraordinária sentir-se parte de uma unidade de combate acostumada a enfrentar inimigos duas, três vezes mais numerosos, no próprio território deles - e vencer.A Morte dos Reis abrange um período de vários anos, e durante grande parte desse tempo César e seu melhor amigo, Brutus, permanecem separados: enquanto o primeiro está às voltas com os piratas e com a revolta de Mitrídates, o outro acaba de concluir um período de serviço militar na Macedônia e Grécia, e, tendo alcançado o posto de centurião, retorna a Roma, onde finalmente conhece sua mãe, Servília - que, na versão de Conn Iggulden, é uma prostituta de luxo; na verdade, quando o filho a encontra, ela praticamente já deixou de exercer a profissão, limitando-se agora a administrar um dos bordéis mais suntuosos de Roma, frequentado por muitos dos homens mais notáveis e poderosos da cidade, incluindo vários senadores. Graças à natureza de suas atividades, Servília tem mais e melhores contatos nas altas rodas de poder do que muitos de seus clientes, e é graças a ela que Brutus obtém do Senado permissão para reconstituir a Primogênita, a antiga legião de Mário, que foi praticamente exterminada quando Sila tomou o poder: como sua simples existência poderia suscitar a rebeldia dos cidadãos que eram leais a Mário, os poucos sobreviventes haviam sido obrigados a abandonar a vida militar, e o nome da legião fora removido das listas oficiais. Brutus, com a ajuda de seu antigo mestre Rênio, e contando com o apoio dos senadores Pompeu e Crasso, conquistados para sua causa por Servília, trata de reunir esses sobreviventes e de começar a recrutar novos soldados, prevendo que, quando Júlio voltar a Roma, precisará de uma força que lhe seja leal.
Outros personagens históricos vão pipocando na narrativa, adaptados aos objetivos ficcionais de Iggulden. Por exemplo, quem assistiu à série Roma terá dificuldade em reconhecer Atia (pronuncie Ácia), lá uma dama ambiciosa da alta sociedade, aqui uma mulher pobre mas orgulhosa, que não esqueceu suas origens nobres e trabalha duro para sustentar-se e ao filho, Otaviano. Os graus de parentesco foram mudados para que Otaviano ficasse mais próximo de César: historicamente, Atia era sobrinha de César, filha de uma irmã mais velha dele, e, portanto, Otaviano era seu sobrinho-neto; neste livro, Otaviano transforma-se em primo de Júlio, com a diferença de idade entre os dois enormemente reduzida. Mesmo assim, é engraçado ler sobre as peripécias do moleque magricela e de cara suja que vagabundeia pelos mercados de Roma praticando pequenos furtos - para desespero da mãe - e pensar que esse mesmo moleque será um dia o primeiro imperador (o próprio Júlio César nunca foi imperador, embora, na prática, tenha tido o poder de um).
O último feito de César e Brutus (novamente reunidos) neste volume, é sua participação na repressão à rebelião de Espártaco, que sobressai entre as muitas revoltas de escravos registradas na história romana, principalmente por suas dimensões, que foram tais que alguns historiadores referem-se ao episódio como a "Guerra Servil". O exército sob o comando de Espártaco chegou a ter 80 mil homens - o dobro do efetivo somado das oito legiões enviadas para enfrentá-lo -, sem contar mulheres, crianças e outros não-combatentes, e não era formado apenas por escravos fugidos ou libertados das propriedades invadidas, mas também por camponeses livres, descontentes com sua vida de trabalho duro e poucos ganhos, e por bandidos comuns, atraídos pela oportunidade de saquear o que encontrassem pelo caminho. Pior que o tamanho do exército era o fato de Espártaco já ter sido um legionário, de modo que conhecia o estilo de luta e as estratégias dos que agora enfrentava. É fato histórico (e está no romance) que faltou muito pouco para que alcançasse Roma e a arrasasse. Já a participação de César no combate ao exército rebelde não tem evidências documentais que a comprovem, embora seja muito possível, já que é sabido que ele era, na época, um jovem oficial nas legiões. A descrição que Iggulden faz das marchas exaustivas e das batalhas desesperadas dessa campanha é um dos (muitos) pontos fortes deste segundo livro.
A Morte dos Reis, independentemente de não casar muito bem com seu título, não frustra em momento algum as altas expectativas criadas por quem leu Os Portões de Roma. Prosa marcante, personagens vivos, sequências de ação de tirar o fôlego, descrições poderosas que evidenciam por parte do autor um sólido e vasto conhecimento sobre a civilização romana - está tudo aqui. Até o momento, não estou nem um pouco cansado da série, de modo que pretendo passar imediatamente ao terceiro volume. Me aguardem...