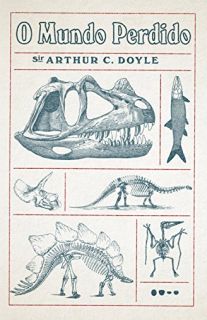quarta-feira, maio 22, 2019
O Cemitério
segunda-feira, abril 29, 2019
A Noite dos Tempos
quinta-feira, fevereiro 21, 2019
O Futuro Começou
Porém, a sonoridade muitas vezes não é o único critério que uma editora brasileira precisa levar em consideração na hora de definir o título de um livro traduzido. É o caso deste aqui. Quando, em 1972, Isaac Asimov e seu editor da época na Doubleday decidiram que seria uma boa ideia reunir num livro os primeiros contos do escritor (cujas publicações originais ocorreram durante a chamada era de ouro da ficção científica, entre o fim dos anos 30 e o fim dos 40), eles não precisaram pensar muito a respeito do título. O livro destinava-se a uma base já formada de leitores fiéis, e eles, que há tanto tempo pediam por uma edição assim, saberiam reconhecê-la só de bater o olho nela nas livrarias. Assim, o óbvio título The Early Asimov (algo como 'o Asimov do início') já servia. Aqui no Brasil, onde o livro foi publicado seis anos depois, a situação era bem diferente. Esta edição da Hemus precisava vender-se num país onde o mercado editorial em geral, e principalmente o de ficção científica, era muito mais tímido que nos Estados Unidos. Muitos leitores estariam tendo seu primeiro contato com Asimov, outros poderiam já ter lido um ou alguns de seus livros, mas poucos teriam tanta intimidade com a carreira e a obra do autor a ponto de compreenderem a importância de conhecer seus trabalhos iniciais. Por isso, a versão nacional acabou chamando-se O Futuro Começou. Levando em conta toda essa situação, não culpo a Hemus por esse título absolutamente genérico e que não informa realmente nada sobre o conteúdo do volume. Era apenas para chamar a atenção de leitores que já tivessem algum interesse em ficção científica, e deve ter funcionado.
O livro é, portanto, uma coletânea de contos dos primeiros anos da carreira de Asimov como escritor, mas não é só isso. Os contos estão inseridos entre trechos mais ou menos autobiográficos, tão interessantes quanto eles – e ocasionalmente, até mais. Vocês devem estar se perguntando como é que algo pode ser "mais ou menos autobiográfico", e a resposta é que o livro oferece vislumbres do dia a dia do adolescente e depois jovem adulto Isaac, mas sempre através do prisma da atividade de escritor. Talvez o fato de já estar acostumado a raramente obter alguma coisa com facilidade tenha enrijecido o couro do rapaz, levando-o a persistir a despeito de ter colecionado várias recusas de diferentes revistas até finalmente conseguir de fato vender sua primeira história para publicação. Seus pais, imigrantes judeus russos, tinham uma loja de doces de onde vinha todo o sustento da família, um sustento pelo qual eles e os filhos precisavam trabalhar constantemente. Isaac, o mais velho, revelou cedo tanto o interesse pela ciência quanto a paixão por ler e escrever. A combinação das duas coisas levou-o naturalmente à ficção científica, e ele gostava de contar que seu primeiro contato com o gênero foi aos nove anos de idade, na loja de doces mesmo, pois ela também incluía uma banca de jornais e revistas, e foi ali que ele travou conhecimento com algumas das várias revistas dedicadas à ficção científica que circulavam naquelas primeiras décadas do século XX. Aquela que viria a ser sua favorita e também a mais influente delas (em grande parte, graças a sua participação) intitulava-se Astounding Stories, mais tarde Astounding Science-fiction, e foi fundada em 1930, pouco depois de Isaac ter sido apresentado à ficção científica, então é provável que ele a tenha lido desde o primeiro número, mas seria somente uns oito anos depois, aos 18 anos de idade, que ele pela primeira vez apresentaria um de seus trabalhos ao editor da revista, John W. Campbell Jr. O trecho em que ele conta como se sentia logo antes dessa ousada empreitada é hilário:
Eu estava convencido de que, por ousar pedir para ver o editor de Astounding Science-fiction, eu seria atirado fora do edifício, e meu manuscrito seria picotado e jogado atrás de mim como confete. Meu pai, porém (que tinha ideais nobres) estava convencido de que um escritor – com o que ele significava qualquer um com um manuscrito – seria tratado com o respeito devido a um intelectual. Não tinha receios nenhuns – mas era eu quem ia entrar naquele edifício.
Atuando dessa forma, Campbell (que também era escritor) foi uma espécie de mentor para um punhado de jovens escritores que estavam em ascensão durante aqueles anos, e hoje é apontado por muitos como o principal responsável por tornar possível a era de ouro. A grande tríade de jovens autores da época, que, com o tempo, viriam a ser considerados titãs da ficção científica, era composta por A. E. Van Vogt, Robert A. Heinlein e pelo próprio Asimov, o mais jovem dos três e, segundo ele mesmo, o que mais demorou a construir reputação. Heinlein, autor de Estranho Numa Terra Estranha e Tropas Estelares, é razoavelmente conhecido entre nós; já quanto a Van Vogt, parece que chegou a ser publicado no Brasil, mas deve fazer muito tempo, pois os únicos livros dele em que consegui pôr as mãos até hoje eram edições portuguesas, das coleções Argonauta e FC Europa-América.
Para quem, como eu (e acredito que a vasta maioria dos fãs), conheceu Asimov já com seu status de monstro sagrado e por meio de uma de suas obras mais aclamadas, como Eu, Robô ou Fundação, será uma experiência bem estranha ler as histórias aqui apresentadas e constatar que: 01) sim, elas são, em tudo e por tudo, histórias "asimovianas"; 02) não, várias delas não são grande coisa. Mas a estranheza diminui ao lembrarmos que foram escritas por um jovem de seus 18 a 20 e poucos anos, talentoso, sem dúvida, mas ainda com muita coisa por lapidar. É preciso também não esquecer que as histórias que estão aqui são somente as que foram publicadas; houve várias, inclusive a primeira de todas, que, depois de terem sido rejeitadas mais de uma vez, o jovem Asimov deixou de lado e acabou, como ele diz, "perdendo de vista" ao longo dos anos, o que significa que os originais foram perdidos e essas histórias não existem mais. Asimov relata que certos leitores parecem contrariados com o fato, e acham que, por piores que fossem, essas histórias deveriam ter sido preservadas por seu valor histórico – afinal, foram as primeiras tentativas de Isaac Asimov, não menos que isso! Sobre esse ponto, o autor comenta com seu sutil e infalível senso de humor: "Tudo o que posso dizer, amigos, é que sinto muito, mas não havia modo de saber, em 1938, que minha primeira tentativa pudesse ter interesse histórico algum dia. Posso ser um monstro de vaidade e arrogância, mas não sou tão monstruosamente vaidoso e arrogante." Sim, ele tinha um ego e tanto (e sabia disso), mas o fato era frequentemente suavizado por um saudável humor autogozador.
Quanto às histórias em si, parece que nos primeiros tempos Asimov cobria um espectro bastante amplo dentro da ficção científica – talvez uma questão de necessidade prática: quanto mais versátil ele fosse ao escrever, melhores suas chances de conseguir vender histórias para diferentes revistas, já que cada uma tinha um perfil próprio. A Astounding queria histórias mais sérias e com alguma base científica factual, já a Planet Stories privilegiava ação e aventura, enquanto a Amazing era, digamos, mais eclética, e ainda havia outras menores, que tiveram vida mais curta. Como sempre acontece em qualquer assunto, quem não entende nada de ficção científica tende a pensar que é tudo a mesma coisa – um grande erro, o que não quer dizer que não houvesse gente que lia todas essas revistas, assim como não há nada de errado em gostar de Shakespeare e também de Harry Potter. De qualquer modo, quando se firmou o suficiente como escritor para poder, ao menos na maioria das vezes, escrever da forma que melhor lhe parecesse, Asimov passou a dedicar-se quase exclusivamente ao que hoje chamamos de hard science-fiction, histórias solidamente ancoradas na ciência, que lidam com ideias complexas e são voltadas para um público maduro.
(De fato, ser um jovem escritor de ficção científica naqueles tempos exigia muita garra. Pagava-se pouco, o que não afetava as exigências de qualidade para que uma história fosse aceita; por vezes o editor até se interessava por determinada história, mas pedia ao autor que a remodelasse – o que, fora o volume extra de trabalho, envolvia a frustração de ter que mexer num texto do qual o autor provavelmente gostava e se orgulhava; e, quando tudo isso era superado e chegava-se à publicação, não raras vezes o título era trocado e o escritor só ficava sabendo ao ver a revista na banca. A respeito do pagamento escasso, uma curiosidade: o valor de uma história era calculado não com base no número de páginas, mas de palavras. A Astounding, sendo a revista de maior gabarito, era também a que pagava melhor: um centavo [de dólar, naturalmente] por palavra, enquanto o valor praticado pelas outras era, em geral, de meio centavo. Hoje em dia, em tempos de Microsoft Word e assemelhados, é fácil saber quantas palavras tem um texto, mas me pergunto como isso era feito naquela época de máquinas de escrever manuais.)
A segunda história, Anel em Torno do Sol, também é uma aventura no espaço e também tem a física como pano de fundo, com duas curiosidades: apresenta uma forte veia humorística e tem como protagonistas Jimmy Turner e Roy Snead, dois pilotos da United Space Mail, que é exatamente o que o nome sugere: uma companhia de serviços postais espaciais. Asimov nos conta que pretendia usar a dupla em outras histórias, criando sua própria série, como alguns escritores da época faziam, mas, por motivos diversos, nunca o fez; conseguiria isso mais tarde com Gregory Powell e Michael Donovan, cujas aventuras podem ser lidas em Eu, Robô. Ainda não foi aqui que Asimov conseguiu criar sua primeira história realmente notável, mas a verdade é que a trama de aventura funciona e o humor também, o que é mais do que dá para dizer da terceira história, A Posse Magnífica, que é calcada na química e não consegue nem empolgar, nem causar um sorriso amarelo que seja. Para compensar, segue-se Tendências, que foi a primeira que Asimov conseguiu vender para a Astounding (as três primeiras foram publicadas em revistas menores), realizando seu sonho de anos e arrecadando alguns dólares a mais do que conseguira até então. A história trata da primeira tentativa humana de voo espacial e, mais especificamente, da resistência social que o pioneiro da cosmonáutica John Harman precisa enfrentar. A história se passa em 1973-74, durante um período de revivescência religiosa que teria se seguido aos horrores da Segunda Guerra Mundial – é bom lembrar que a história foi escrita entre o fim de 1938 e o início de 1939. Como toda pessoa bem informada da época, o jovem Asimov via que as crescentes tensões políticas na Europa levariam inevitavelmente a uma guerra que acabaria envolvendo também os Estados Unidos e outros países, mas ele arriscou o palpite de que ela começaria em 1940; começou em '39 mesmo, meses depois de a história ter sido publicada. Um dos resultados da guerra (na ficção de Asimov) foi que a população em geral pegou um trauma da ciência e da tecnologia, considerando-as responsáveis pelas catástrofes da guerra, e, por consequência, voltou-se para a fé e o misticismo, enquanto a pesquisa científica era de todas as formas desencorajada. A maneira como pessoas religiosas são retratadas na história sugere que, apesar de vir de uma família judia ortodoxa, Asimov nunca teve grande simpatia pela religião de modo geral (na maturidade, ele parece ter sido um agnóstico), talvez porque, como muita gente, enxergasse fé e ciência como adversárias irreconciliáveis – uma noção, no mínimo, altamente discutível, como comento num outro post. Seja como for, Tendências é, sem dúvida, superior às histórias anteriores. Nos comentários temos a confirmação de algo que eu já imaginava enquanto lia a história: o fato de o personagem-narrador, um ajudante direto de Harman, chamar-se Clifford, não é coincidência, e sim uma homenagem ao escritor Clifford D. Simak, um dos ídolos de Asimov desde seus tempos de simples leitor.
A Arma Terrível Demais Para Ser Usada (título comprido, deselegante e inexato, já que a tal arma é usada) é provavelmente inferior a Tendências, mas, pessoalmente, me agradou mais. Nela, a mesma história que aconteceu tantas vezes na Terra repete-se durante a exploração do sistema solar: os terráqueos invadem e colonizam Vênus, transformando os nativos em cidadãos de segunda categoria em seu próprio mundo. Os venusianos já foram uma raça poderosa, mas, na época retratada, estão reduzidos em número, e muito da herança cultural e científica de seus antepassados se perdeu, de modo que não possuem a mínima condição de oferecer qualquer resistência à tirania da Terra. Naturalmente, muitos terráqueos são contra o modo como os venusianos têm sido tratados, mas, até aquele momento, foram voto vencido. Até que dois amigos – um venusiano e um terráqueo –, explorando as ruínas de uma cidade sagrada em Vênus, descobrem um artefato dos antigos venusianos que pode mudar tudo. Concordo que a resolução da trama é extremamente ingênua, como observa Asimov depois que a história termina, mas não faz mal: ainda assim é boa ficção científica, e muito agradável de ler.
Mais curiosidades vão pipocando: O Futuro Começou inclui O Frei Negro da Chama, que Asimov havia intitulado originalmente Cruzada Galática, mas também esse título foi trocado à sua revelia. É uma história ambiciosa (talvez um tanto ambiciosa demais para o escritor naquela altura da carreira) sobre uma rebelião da espécie humana contra os lhasinu, uma raça reptiliana originária de Vega, que a havia dominado. Essa rebelião é guiada pelos "loaras", sacerdotes de uma religião influente naqueles dias. Além da inspiração óbvia, e que estava explícita no título original, outras passagens da História antiga e medieval parecem ter servido como referências. Embora a ideia seja boa, a história é bastante confusa e tem problemas de ritmo; na parte autobiográfica Asimov conta que foi a campeã de revisões em toda a sua carreira, tendo sido reescrita cinco ou seis vezes, e o leitor fica inclinado a concordar com sua conclusão de que submeter uma história a muitas revisões tem maiores probabilidades de piorá-la que de melhorá-la. Vale mais pela curiosidade de que é nela que são citados pela primeira vez os planetas Trantor e Santanni, que teriam papéis importantes na saga Fundação.
(Espero que haja alguns fãs hardcore de ficção científica me lendo, pois creio que seja o único tipo de leitor capaz de se divertir com essa espécie de curiosidade! – risos. Todos os outros já devem ter desistido deste post.)
Como um jovem autor que ainda estava afiando seus instrumentos, Asimov por vezes errava a mão ao superestimar o conhecimento científico médio de seus leitores em potencial, como nas histórias Homo Sol e Imaginário, que, juntas, são como que um esboço de série, já que o ambiente e alguns personagens são os mesmos em ambas. Campbell aceitou a primeira e rejeitou a outra (que seria, mais tarde, publicada em outra revista), a despeito da justificável crença de Asimov de que um conto com "antecedentes" seria olhado com mais interesse pelo editor. Nessas histórias se delineia, de forma ainda nebulosa (e, para falar sem rodeios, tosca) um universo que lembra o de Fundação: há muitas civilizações, mas são todas humanoides, e já desponta a ideia de que seria possível prever as reações de grupos humanos a determinadas situações por meio de cálculos matemáticos. Curiosamente, nesse universo os humanos da Terra são exceção num ponto-chave: são a única raça humanoide conhecida que, quando em grandes grupos, fica mais suscetível a emoções como raiva ou pânico; todas as outras raças tendem a ter um comportamento tanto mais estável quanto mais numerosa for a multidão. Essa e outras características peculiares fazem dos terráqueos um povo imprevisível, com o qual é preciso tomar cuidado. O mesmo universo descrito em Homo Sol e Imaginário aparece, ainda, na divertida O Trote, que se passa numa universidade frequentada por estudantes de vários planetas e raças. Nessa, entretanto, só a ambientação é a mesma, pois os personagens das outras duas não aparecem.
Mais uma curiosidade se junta a tantas outras que descobrimos neste livro: em seus primeiros tempos como escritor, Asimov teve a constante ambição de colocar histórias suas na revista Unknown, uma espécie de irmã da Astounding, publicada pela mesma editora e também coordenada por Campbell, só que voltada para a fantasia. Fez várias tentativas ao longo de anos, sendo sempre rejeitado; parece que Campbell mantinha a mesma linha dura ao selecionar o material que iria publicar, fosse qual fosse a revista ou o gênero. Quando, já em 1943, Asimov finalmente conseguiu ter uma história aceita para a Unknown, a revista acabou sendo cancelada antes que ela fosse publicada: estava-se em plena Segunda Guerra Mundial e os recursos andavam escassos, até mesmo o papel, o que forçou Campbell a escolher entre extinguir a Unknown ou reduzir a periodicidade da Astounding para bimestral. E a decisão que ele tomou, ainda que dolorosa, foi correta: Astounding ganharia mais e mais relevância durante os anos seguintes, e existe até hoje, embora seu nome tenha mudado para Analog Science-fiction and Fact, geralmente chamada apenas de Analog. A história vendida e não publicada apareceu, anos depois, como bônus numa coletânea dedicada às melhores histórias da Unknown, e também está incluída em O Futuro Começou; trata-se de Autor! Autor!, na qual, sinceramente, não vi nada de mais. Se Campbell a considerou uma evolução em relação às tentativas anteriores de Asimov no campo da fantasia, respeito sua expertise de editor, mas a história realmente não me empolgou.
Um dos raros exemplos que sobreviveram dentre as histórias de Asimov rejeitadas pela Unknown é O Homenzinho no Metrô, também presente em O Futuro Começou, e que não depõe muito a favor da qualidade geral desses trabalhos; é uma história com pouquíssimo pé ou cabeça, cujo principal objetivo parece ser o de satirizar a religião, e séria candidata a pior conto do livro. Para deixar tudo ainda mais curioso, é produto de uma parceria entre Asimov e Frederik Pohl, e só foi preservada porque, depois que Campbell a recusou, Asimov devolveu o original a Pohl, que, vários anos mais tarde, conseguiu vendê-la para uma revista obscura, provavelmente graças ao renome que tanto ele quanto Asimov haviam ganho durante esse intervalo. Pohl e Asimov ainda voltariam a escrever em dupla, e O Futuro Começou nos oferece outro exemplo, Ritos Legais, uma história de fantasma (as surpresas parecem não ter fim: Isaac Asimov escrevendo sobre fantasmas??), também destinada à Unknown e também rejeitada e mais tarde vendida para outra revista – e não uma revista qualquer: simplesmente a Weird Tales! (ver aqui e aqui) Foi a única vez que um trabalho de Asimov foi impresso na WT – e ganhou a capa. Pohl assinou com um de seus vários pseudônimos, "James McCreigh", que acabou sendo grafado errado. Essa história é melhorzinha que a outra, mas não criem muita expectativa.
(Muito mais tarde, já nos anos 80, Asimov viria a dedicar-se à fantasia com regularidade e certo sucesso, com as histórias de Azazel, um minúsculo demônio [ou talvez extraterrestre, não se sabe ao certo] que faz amizade com um sujeito chamado George, e, a partir daí, os dois, utilizando os poderes de Azazel, tentam ajudar diversas pessoas a resolver variados tipos de problemas – o que sempre dá errado da maneira mais engraçada possível. Nessa altura, já maduro e experiente, Asimov havia aumentado muito sua versatilidade enquanto escritor, mas também é bom levar em consideração que não mais precisava preocupar-se se suas histórias seriam aceitas ou rejeitadas, primeiro porque já era um autor consagrado, cujo nome na capa de uma revista era garantia de boas vendas, e, segundo, porque a maior parte das histórias de Azazel foi publicada na revista que levava seu nome e que ele próprio editava [e que teve versão brasileira, embora com vida curta]. Na minha opinião de leitor, essas histórias são divertidas, mas não estão nem de longe entre as melhores do autor. O grande combustível das aventuras de George e Azazel é o humor, e, falando francamente, as habilidades de Asimov para a comédia não eram tão notáveis quanto ele parecia acreditar que fossem. Suas piadas às vezes funcionam, às vezes nem tanto.)
Há ainda várias outras histórias, boas e nem tanto, e não acho necessário falar sobre uma por uma; algumas eu já havia lido em outros livros, como Não é Definitivo!, que aparece na antologia A Sonda do Tempo, editada por Arthur C. Clarke, só que com o título Não é a Última Palavra!, ou Natal em Ganimedes (outra das tentativas de Asimov de fazer humor; esta, em minha opinião, com sucesso mediano), que sei que também já havia lido antes, mas não consigo lembrar onde. Só há mais um conto que quero destacar, e esse por razões absolutamente pessoais. Refiro-me a Nenhuma Ligação! (No Connection!), publicada originalmente na Astounding em junho de 1948. No começo temos a impressão de que os personagens que aparecem em ação são humanos, mas depois nos damos conta de que isso é mera suposição e, por um indício encontrado aqui e outro ali, começamos a desconfiar que não é bem assim, até a coisa ser explicitada: a civilização que ali vemos retratada pertence a seres que se autodenominam gurrows (o nome científico é Gurrow sapiens), fisicamente semelhantes a ursos, e provavelmente descendentes deles – ou seja, tudo leva a crer que estejamos vendo a Terra num futuro extremamente distante, quando o homem já não existe há muito tempo, o que abriu espaço para a ascensão de outra espécie inteligente, e os ursos, ao que podemos supor, evoluíram nessa direção. A sociedade deles é muito pacífica e verdadeiramente igualitária, sem as mazelas que sempre apareceram ao longo da História humana quando se tentou estabelecer uma "igualdade". Cada gurrow ocupa-se do tipo de trabalho que mais lhe agrade, desde que este seja útil à sociedade, e, se há uma tarefa da qual ninguém gosta, mas que é necessária, equipes são formadas para realizá-la por turnos, em sistema de revezamento. Por exemplo, um deles pode gostar de cultivar jardins e ter isso como profissão, mas, uma ou duas vezes por mês, tem que juntar-se a um grupo que vai fazer a limpeza das fossas sépticas, e dedicar-se a essa tarefa durante algumas horas. E, se aparecer alguém que goste de limpar as fossas sépticas, bem, esse gurrow irá trabalhar com isso, liberando outros de uma ocupação que, para eles, não é agradável. E o mais interessante: para os gurrows, a noção de profissões prestigiosas ou desprezadas é completamente desconhecida. Um limpador de fossas sépticas e um reitor de universidade, por exemplo, ganham a mesma coisa e estão em completa igualdade social, tendo, aos olhos de todos os outros, o mesmo status. A história dá a entender que esse estado de coisas não é resultado de nenhum tipo de política: são apenas os "gurrows sendo gurrows". O conceito é fascinante, não só a descrição de uma sociedade assim, mas a própria ideia de outra espécie inteligente evoluindo na Terra; porém, se eu fosse escrever essa história, acho que escolheria como base algum outro tipo de animal (não sei ao certo qual), já que os ursos são seres essencialmente solitários, que praticamente só convivem com outros de sua espécie para fins reprodutivos e durante curtos períodos, de modo que dificilmente desenvolveriam inteligência (a vida em grupo parece ser requisito para isso), e, ainda que a desenvolvessem, não acho provável que criassem uma sociedade complexa. Mas isso ainda não é tudo: parece que o impulso exploratório não é uma característica dos gurrows, pois faz poucos anos que eles descobriram que existem outros continentes além daquele em que habitam – e, surpresa, num deles existe outra espécie inteligente, essa derivada dos chimpanzés. Um grupo desses estranhos acaba de chegar à terra dos gurrows numa aeronave, e eles se dizem "refugiados políticos" – outra noção que a mente dos "ursos" não é capaz de conceber, mas que parece familiar aos recém-chegados, que chamam a si mesmos de ikas. Pelo visto, mesmo com a humanidade extinta, primatas serão sempre primatas.
Creio que é chegada a hora do apanhado geral, então vamos a ele. No que se refere às histórias, O Futuro Começou é irregular como noventa e nove por cento das coletâneas, com momentos excelentes e outros que testam nossa paciência, e, como já observei antes, isso não causa surpresa, já que, até aproximadamente a metade do volume, o que estamos lendo são os trabalhos de um autor inexperiente, ainda em busca de sua verdadeira "cara" como escritor; já os trechos autobiográficos ampliaram bastante o meu conhecimento a respeito da trajetória desse que foi um dos mais importantes autores de ficção científica, esclarecendo, inclusive, os motivos de algumas características conhecidas de certas obras suas. Portanto, em resumo, é um livro que deve ser recomendado a todos os que gostam de Asimov. Quanto à qualidade desta edição em particular, bem… Todo leitor brasileiro de ficção científica tem uma relação de carinho e gratidão com a editora Hemus, que durante muitos anos colocou ao nosso alcance muito do melhor que existe no gênero mundo afora; esse design inconfundível de seus volumes de capa branca, com o nome do autor em vermelho e preto no alto, sempre nos trará recordações agradáveis. Porém, nem mesmo tudo isso foi suficiente para me fazer fechar os olhos a todas as falhas que encontrei aqui. São creditados os nomes de três tradutores diferentes, sem que haja indicação de quais histórias cada um traduziu, e, em muitas delas, qualquer leitor que conheça a língua inglesa detectará erros ingênuos, que, a meu ver, seriam admissíveis se cometidos por um estudante de nível básico a intermediário, nunca por um tradutor habilitado. E, igualmente incrível, o revisor também os deixou passar… Talvez a editora Aleph, que anda relançando muitos livros de Asimov que há muito tempo estavam fora de ca-tálogo no Brasil, se anime a fazer uma nova edição de The Early Asimov, mais bem cuidada desta vez.
quinta-feira, janeiro 17, 2019
O Mundo Perdido
Garimpando, tempos atrás, num dos diversos sebos da rua Riachuelo, no centro de Porto Alegre, adquiri um exemplar da velha edição de O Mundo Perdido da Francisco Alves, editora que durante décadas fez por merecer a gratidão de todos os fãs brasileiros da literatura de imaginação; porém, o livro ainda aguardava na minha estante a sua vez de ser lido quando encontrei numa livraria esta nova edição, e, ao ver que incluía uma ampla seção de notas explicativas do tradutor Samir Machado, concluí que valia a pena: Conan Doyle tinha uma tendência a salpicar seu texto com referências a personalidades, instituições e costumes da Inglaterra vitoriana que podem soar bastante misteriosas para quem vive em outra época e outro país (e digo da Inglaterra porque, embora fosse escocês de nascimento e descendente de irlandeses, ele parecia ter em Londres seu habitat literário por excelência). E, de fato, as notas não apenas esclarecem sobre esses detalhes da realidade britânica da época, como corrigem e atualizam vários pontos nos quais as observações do autor sobre características e comportamento dos animais pré-históricos estão hoje ultrapassadas graças aos vastos progressos da paleontologia ao longo do último século. Contando com esse reforço, mergulhei na minha primeira leitura desse clássico.
Não foi pouca a minha surpresa ao perceber na estrutura de O Mundo Perdido uma série de semelhanças com Viagem ao Centro da Terra (1864), de Júlio Verne! É claro que o formato de ambas as histórias é comum a um sem-número de obras que tratam da descoberta de "mundos perdidos", o que alguns teóricos chegam a classificar como um subgênero específico dentro da literatura de aventura – a saber, uma expedição de intrépidos exploradores penetrando em alguma região isolada, desconhecida pelo resto da humanidade, e lá descobrindo todo tipo de maravilhas e surpresas – mas, mesmo assim, chamou-me a atenção que ambos os livros sejam narrados na primeira pessoa por jovens corajosos que deixam para trás suas respectivas amadas, cada um deles na esperança de retornar de sua aventura coberto de glória e assim merecer casar-se com sua musa. Ambos, também, seguem a liderança de um brilhante e excêntrico cientista. No livro de Verne, o jovem Áxel é sobrinho e discípulo do Prof. Otto Lidenbrock, e espera ganhar a mão de Grauben, afilhada do cientista; no de Conan Doyle, o protagonista Edward Malone é um jornalista jovem, mas que já granjeou certa reputação, e está irremediavelmente apaixonado por Gladys, uma moça que parece satisfeita de manter com ele uma relação de cordial amizade, situação sobre a qual o jovem repórter tem opiniões categóricas:
Éramos amigos, bons amigos, mas nunca consegui ir além do mesmo tipo de camaradagem que eu poderia ter com algum colega jornalista da Gazette – perfeitamente sincera, perfeitamente gentil e perfeitamente assexuada. Meus instintos iam contra a ideia de que uma mulher pudesse ser sincera e ficar à vontade comigo; para um homem, isso não é elogioso. Onde a verdadeira atração sexual começa, a timidez e a desconfiança são suas companheiras. (…) A cabeça baixa, o olhar arisco, a voz vacilante, os estremecimentos – esses são os verdadeiros sinais da paixão, não o olhar direto e a resposta franca. Mesmo em minha curta vida, esse tanto eu havia aprendido – ou herdado daquela memória que nossa raça chama de instinto. (…) Houvesse o que houvesse, essa noite eu precisava acabar com o suspense e levar o assunto adiante. Ela poderia até me rejeitar, mas era melhor ser repelido como amante que aceito como irmão.
Tudo pura verdade! Malone demonstra ser sábio para seus parcos 23 anos.
O lugar onde o tempo parece ter parado (depois se descobrirá que não é bem assim) é um platô isolado, cercado em todas as direções por milhares de quilômetros quadrados de selva fechada e pouquíssimo explorada. A teoria de Challenger é a de que, durante alguma era antiga do planeta, atividade vulcânica violenta tenha erguido esse platô, rodeando-o de rochedos intransponíveis que cortaram completamente seu acesso ao resto do mundo. A não ser pelas criaturas aladas, nada entra e nada sai. Esse isolamento teria feito com que a fauna desse pedaço da selva não acompanhasse o processo de extinções e evolução pelo qual a vida na Terra passou desde então. Uma "terra que o tempo esqueceu" – por sinal, título de um livro de Edgar Rice Burroughs, publicado em 1924 e sobre o qual suspeito fortemente de que as semelhanças não sejam mera coincidência.
O platô onde se localiza a Terra de Maple White – assim nomeada em homenagem ao desafortunado explorador norte-americano que foi seu descobridor original – não tem uma extensão muito grande: é descrito como uma área em forma de elipse, com aproximadamente 50 quilômetros de comprimento por 30 de largura máxima. A população animal que uma região desse tamanho poderia sustentar seria pouco numerosa, ainda mais em se tratando de animais de grande porte como era o caso de muitas espécies de dinossauros, mas o leitor com algum conhecimento de paleontologia (mesmo que seja apenas um conhecimento nascido da curiosidade, como no meu caso) perceberá logo que não se deve esperar muito apuro científico nas descrições que Doyle faz da fauna do lugar. A ideia em si do motivo para que os dinossauros tenham sobrevivido ali é até plausível, ainda que improvável, mas é difícil explicar que, além deles, também sejam encontrados exemplos do que hoje chamamos de megafauna, mamíferos de grande porte que dominaram a Terra durante o período Pleistoceno, entre 1,8 milhão e cerca de 12 mil anos atrás – dezenas de milhões de anos depois da extinção dos dinossauros e preenchendo os nichos ecológicos outrora ocupados por eles (é importante lembrar que foi durante o Pleistoceno que se deu o surgimento do homem, cuja atividade como caçador pode ter contribuído para a extinção de certas espécies da megafauna). O autor chega a mencionar o toxodonte, o gliptodonte (este sem citar o nome, falando apenas em “seres semelhantes a tatus”), e, com destaque, o alce-gigante, também conhecido como alce-irlandês, cervo-gigante ou megalocero, talvez o maior cervídeo de que se tem notícia. Não se tratava realmente de um alce, estando geneticamente muito mais próximo do wapiti, ou cervo-canadense (que às vezes é equivocadamente chamado de alce, o que causa confusão) e do veado-vermelho do hemisfério norte, embora seus formidáveis chifres espalmados lembrassem, de fato, os do alce que conhecemos. Era um bicho enorme, que chegava a pesar 700 quilos. O registro fóssil indica que viveu na Europa e na Ásia; sua presença na Amazônia é mera licença poética. A espécie extinguiu-se há uns sete mil anos.
A pergunta inevitável é: se a Terra de Maple White foi isolada do resto do mundo devido à atividade sísmica ou vulcânica na época em que os dinossauros reinavam, como foi que esses grandes mamíferos, que só surgiram em estágios muito posteriores da história da vida na Terra, foram parar lá? O Prof. Challenger tem uma teoria:
Minha própria leitura da situação (…) é que a evolução tem avançado sob as condições peculiares desta terra até o estágio vertebrado, e os tipos antigos sobrevivem e vivem em companhia dos mais novos. Por isso encontramos criaturas modernas como a anta, um animal com uma linhagem e tanto, o grande veado e o tamanduá, em companhia de formas reptilianas do tipo jurássico.
Sim, eu sei: isso não é apenas superficial – é vago demais para podermos dizer que explica alguma coisa. É claro que, num simples livro de aventuras que fala de um lugar totalmente fictício, explicar cientificamente as características de tal lugar não seria uma prioridade nos planos do autor, nem há motivo para que o fosse, mas, como estou escrevendo por prazer, eu também vou me "aventurar" e alongar um pouco mais o assunto.
Quando O Mundo Perdido foi publicado, fazia pouco mais de 50 anos que Charles Darwin havia apresentado a teoria da evolução, e, embora ela já fosse aceita pela maior parte do meio científico e acadêmico, não sei o suficiente sobre história da ciência para poder dizer até onde haviam progredido os estudos sobre o assunto, ou qual a compreensão que se tinha do funcionamento da evolução na prática, então não sei se o esboço de teoria do Prof. Challenger está de acordo com o que se pensava ou o que se sabia na época, mas, à luz da biologia atual, pode-se apontar pelo menos um grande problema: sabe-se hoje que é muito improvável (para dizer o mínimo) que populações de uma mesma espécie, isoladas umas das outras, evoluam exatamente da mesma maneira – ainda que expostas a idênticas condições ambientais. Em outras palavras, vamos admitir que, quando a Terra de Maple White se formou, tenham ficado presos lá, junto com os dinossauros, alguns dos pequenos mamíferos primitivos que já existiam nos períodos Jurássico e/ou Cretáceo: a probabilidade de que esses animais dessem origem, milhões de anos depois, a antas ou alces-gigantes iguais aos do mundo exterior seria, a bem dizer, inexistente. Teriam, certamente, evoluído para novas espécies, mas estas seriam únicas, endêmicas do platô e diferentes das encontradas em qualquer outro lugar – e é provável que fossem todas pequenas, já que os nichos ecológicos disponíveis para espécies de grande porte estariam ocupados pelos dinossauros. E tem mais: por que os mamíferos teriam evoluído, enquanto os dinossauros permaneciam tal como eram? Mas não vamos julgar Doyle: premissas mais esdrúxulas que a de O Mundo Perdido já renderam boas histórias. O livro foi escrito para divertir, e não há dúvida de que o faz muito bem.
Esta edição termina com Grandes, Assustadores e Extintos, artigo de autoria de Samir Machado, tradutor e responsável pelas notas, como dito no início. Mesmo com um perceptível ranço politicamente correto, é um texto interessante, cheio de curiosidades sobre a longa e profícua carreira dos dinossauros no imaginário e na cultura popular, com ênfase em suas aparições no cinema, desde a primeira filmagem do próprio O Mundo Perdido, em 1925 (ainda nos tempos do cinema mudo), até a franquia Jurassic Park, criada por Steven Spielberg com base em um livro de Michael Crichton e cujo mais recente episódio foi lançado em 2018. Entretanto, a influência dos dinossauros sobre a imaginação humana não começou no cinema e nem mesmo na literatura escrita (lembrem-se de que narrativas orais também são uma forma de literatura): é fascinante pensar que fósseis de dinossauros, encontrados por acaso séculos antes que esses animais fossem conhecidos pela ciência, foram a provável origem dos mitos não só sobre dragões, mas também sobre outros seres fantásticos. Esqueletos de protocerátops – um ancestral da linhagem dos famosos tricerátops e estiracossauro –, que eram achados em quantidade na Ásia central, podem ter dado origem à lenda do grifo, um animal com quatro patas e bico de ave!… Voltando por um instante à primeira adaptação cinematográfica de O Mundo Perdido, descobri no artigo de Machado que os dinossauros desse filme foram criados por um cidadão chamado Willis O'Brien, um dos pioneiros da animação stop motion e, mais tarde, mentor do jovem Ray Harryhausen, por sua vez responsável por dar vida a tantas criaturas extintas ou fantásticas, em filmes inesquecíveis inspirados na mitologia grega e em As 1001 Noites, tais como Fúria de Titãs, Jasão e os Argonautas, Sinbad e o Olho do Tigre e tantos outros… Para mim e outros da minha geração, a menção desses títulos é suficiente para fazer bater aquela nostalgia. Harryhausen teve o privilégio de ser amigo de infância de outro Ray – Ray Bradbury, e os fãs de ficção científica conhecem bem o peso desse nome. Os dois Rays uniram forças num filme lançado em 1953, com o título The Beast from 20000 Fathoms; uma tentativa de tradução direta resultaria em algo tão horroroso quanto A Fera que Veio de 20000 Braças de Profundidade (arre!), motivo pelo qual, ao chegar ao Brasil, o filme foi rebatizado como O Monstro do Mar. Há mais curiosidades desse tipo esperando pelos leitores nesse artigo.
Para concluir, quero prestar o devido reconhecimento à editora Todavia, já que O Mundo Perdido há muito andava ausente das livrarias nacionais, e o retorno deu-se de maneira digna, com esta edição agradável e bem cuidada. O único senão é o mesmo do qual já me queixei uma vez aqui no blog, a coisa de terem decidido colocar as notas no final em vez de no rodapé das páginas, o que compromete o dinamismo da leitura. Sugiro rever isso nas próximas edições.